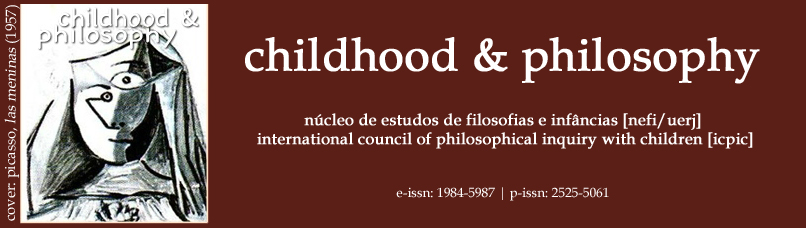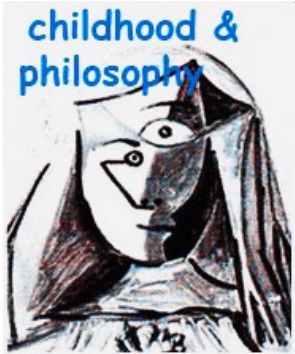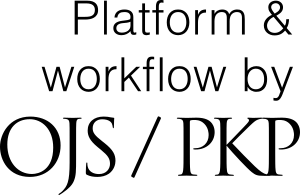da pandemia à polifonia: “declaração de dependência” comunitária
DOI:
https://doi.org/10.12957/childphilo.2023.71581Palavras-chave:
declaração de dependência, FpcC, estudoResumo
Em tempos de crise, as conexões entre as pessoas, culturas e sociedades parecem ser os principais antídotos contra os riscos do individualismo, da autorreferência e da cultura de vingança. A conectividade oferece oportunidades para nutrir a generatividade humana (Santi, 2021) rumo a futuros melhores e cenários cosmopolitas, em contraste à ilusão da economia autárquica, à retórica do nacionalismo político, ao fortalecimento de polarizações políticas como a competição/marginalização, que abrangem também a educação. A pandemia que ocorreu em 2020 enfatizou os riscos do isolamento e as oportunidades de conexão: tem sido uma situação tanto paradoxal quanto paroxística pensar sobre formas de dependências, especialmente nos contextos educacionais. O pretexto da investigação proposta a 817 estudantes da Universidade de Padova foi um provocante título de um álbum de músicos conhecidos: “Declaração de Dependência". O objetivo era pensar sobre (in)dependências que criam papéis “regulares”, como “estudo/estudante”, que são importantes na nossa existência humana e foram completamente abalados pela “sindemia” (Singer, 2009). A aspiração era revelar o inalienável senso de pertencimento a uma universidade próspera que considera as dependências das pessoas numa comunidade generativa de horizontes futuros. Nossos esforços levaram à elaboração do manifesto compartilhado da “Declaração de Dependência”, um documento que sussurrou e gritou as dependências dos estudantes e que foi, posteriormente, partilhado com a comunidade em múltiplas linguagens. Em 2021, a natureza acolheu a reunião das declarações através da prática filosófica e do diálogo, como um paradigma do pensamento complexo. No workshop realizado no ICPIC 2022 - 20ª Conferência Bienal em Tóquio, demos uma dimensão internacional às reflexões que nos acompanharam no contexto universitário de Pádua. O objetivo foi refletir sobre as dependências educacionais, coletivas e pessoais da comunidade contemporânea através da prática da FpcC na natureza como um tempo e espaço para a escuta, para estar aberto e ganhar perspectiva. Foi uma oportunidade de dar voz a diferentes pensamentos, vivências e contextos sócio-políticos sobre como a pandemia impactou, mudou e gerou. Considerando os novos desafios educacionais e filosóficos, sentimos uma necessidade urgente de desconstruir as fronteiras estabelecidas e retornar às origens. Recordar a metáfora da natureza (Roversi et al, 2022) no mundo das dependências recorda à humanidade que ela faz parte de uma ecologia sociocultural que se fundamenta e se alimenta na sua relação com os outros. Uma comunidade que busca suas dependências como dádivas para projetar um futuro melhor parece ser o amanhecer de amanhã.Downloads
Referências
Appadurai, A. (2014). Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale. Milano: Cortina Raffaello.
Baldacci, M. (2002). Una scuola a misura d’alunno. Torino: UTET Libreria.
Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Burdick-shepherd, S., Cammarano, C. (2017). Philosophy for Children Goes to College. childhood & philosophy 13, n. 27, pp. 235–251.
Dewey, J. (2014). Esperienza e educazione. Milano: Cortina Raffaello.
Gaivota Contage, D. (2019). Infância e invisibilidade: por uma pedagogia do oculto. childhood & philosophy, 15, pp. 01-15.
Giroux, H. (2021). Pandemic Pedagogy. Education in time of crisis, London: Bloomsbury.
Heble, A. (2010). Destinations Out: Towards a Jazz-Inflected Model for Community-Based Learning. UPEI.
Horton, R. (2020). COVID-19 is not a pandemic. Lancet; 396(10255): 874.
Kennedy, D., Kohan W.O. (2008). Aión, Kairós and Chrónos: fragments of an endless conversation on Childhood, Philosphy and Education. childhood & philosophy, 4, 8, pp. 05-22.
Kennedy, D., Kohan W.O. (2014). School and the future of scholé: a preliminary dialogue. childhood & philosophy, 10, 19, pp. 199-216.
Kohan W. O., Chiapperini, C. (cur.) (2006). Infanzia e filosofia. Perugia: Morlacchi Editore.
Larrosa, J., Skliar, C. (2009) Experiencia y alteridad en educación. Homo Sapiens. Colección “Pensar la educación”. FLACSO. Buenos Aires.
Lipman, M. (1988). Philosophy goes to school. Philadelphia: Temple Univ Press.
Lipman, M., (2005). Educare al pensiero. Milano: Vita e Pensiero.
Lipman, M. (2018). L’impegno di una vita: insegnare a pensare. Milano: Mimesis.
Mancuso, S. (2019), La nazione delle piante. Bari-Roma: Editori Laterza.
Masschelein, J. & Simons, M. (2013). In defence of the school. A public issue. Leuven: E-ducation, Culture & Society Publishers.
Morin, E. (2017). La sfida della complessità. Firenze: Le Lettere.
Pulvirenti, F., Tigano, A., Valenziano, A., Zoda, L. (2009). Scuole e università. La valutazione di esperienze laboratoriali. childhood & philosophy 5, n. 10, pp. 403–424.
Rose, D. H., Meyer, A., Hitchcock, C. (2005). The Universally Designed Classroom, Harvard: Education Press.
Roversi, V., Gaivota Contage, D., Cavallo, A. (2022). Creare i sensi della terra: il respiro naturale della Comunità d’Indagine. childhood & philosophy, In-press.
Santi, M. (2005). Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare. Napoli: Liguori Editore.
Santi, M. (2006a). Costruire comunità di integrazione in classe. Lecce: Edizioni La Biblioteca Pensa Multimedia
Santi, M., (2006b). Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni in classe. Napoli: Liguori Editore.
Santi, M. (2021). Into the groove: connettere il presente per slegare il futuro dell’educazione umana. In Ghedin, E. (cur), Per un design (connettivo) inclusivo: valorizzare e innovare capability connettive nelle scuole, Milano: Guerini Scientifica.
Santi M., Antoniello S.M., Tiozzo Brasiola O. (2022). Dall’educazione alla sostenibilità alla pedagogia della generabilità. Pedagogia e Vita, 1.
Santi, M., Ghedin. E. (2012). Valutare l’impegno verso l’inclusione: un Repertorio multidimensionale. Italian Journal of Educational Research, 99–111.
Scuola di Barbiana (1996). Lettera a una professoressa. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina.
Sen, A. (2020). Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia. Milano: Mondadori.
Singer, M. (2009). Introducing syndemics: A critical systems approach to public and community health. Wiley, New York.
Skliar, C., Brailovsky, D. (2021). Dar infancia a la niñez. notas para una política y poética del tiempo. childhood & philosophy, 17, pp. 01-21.
Tiozzo Brasiola, O. (2020). Didattica generativa della solidarietà: generare creatività e creare generatività. Formazione & Insegnamento, XVIII, 1, 737-746.
UNESCO, (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. Paris: UNESDOC Digital Library. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en.
Vadeboncoeur, J. A, Alkouatli C., Amini N. (2015). Elaborating “dialogue” in communities of inquiry: attention to discourse as a method for facilitating dialogue across difference. childhood & philosophy 11, n. 22, pp. 299–318.
Zorzi, E., Santi, M. (2020). Improvising Inquiry in the Community: The Teacher Profile. childhood & philosophy 16, n. 36, pp. 01–17.
Weinstein, J. A Safe Creativity Environment, In Santi M., Zorzi E. (2016). In Education as Jazz: Interdisciplinary Sketches on a New Metaphor, Cambridge Scholars Publishing.
Weyland, B., Galletti, G. (2018). Lo spazio che educa. Generare un'identità pedagogica negli ambienti per l'infanzia. Parma: edizioni junior - Bambini S.r.l.