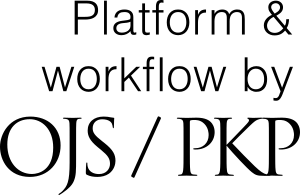Visibilidade trans 2023: as questões biopolíticas permanecem

Por Beatriz Pagliarini Bagagli
Tem mestrado em linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e atualmente é doutoranda em linguística pela mesma instituição. Integra o grupo de pesquisa Mulheres em Discurso, liderado pela professora Mónica Zoppi Fontana. Membro da Associação Brasileira Profissional pela Saúde Integral de Travestis, Transexuais e Intersexos (ABRASITTI); escreve para o transfeminismo.com e TransAdvocate Brasil. Pesquisa na área de análise do discurso temas referentes à subjetividade transgênera, a compreensão do sofrimento psíquico, corporalidades e feminismo radical trans-excludente.
Um ano já se passou desde que escrevi para a seção de notícias da Revista Docência e Cibercultura, a pedido da Sara Wagner York. Era janeiro, e com isso lembramos do dia da visibilidade trans, dia 29. Vale a oportunidade, portanto, de fazer um balanço do que escrevi e pensar mais detidamente sobre os seguintes pontos que também merecem destaque e análise: 1) a noção de cisnormatividade; 2) o acesso a recursos de transição de gênero como uma questão biopolítica em disputa atual, sobretudo para as pessoas mais jovens; 3) o papel dos casos e dos relatos de destransição de gênero na retórica anti-trans; e 4) a relação da forma como definimos as categorias identitárias com as possibilidades de alianças políticas.
Naquela ocasião, abordei o que considero ser alguns dos pontos mais importantes a respeito das tensões entre o movimento trans e o feminismo anti-trans. Um dos meus maiores esforços ao longo dos anos nos meus escritos sobre transfeminismo é justamente defender que tais tensões precisam ser desfeitas, já que, além de não existir nenhum antagonismo real entre os interesses da população trans e das mulheres cis, as alegações de auto-proclamadas feministas radicais se baseiam ora em desconhecimento puro, ora em preconceito transfóbico.
É gratificante receber convites para falar sobre feminismos anti-trans, pois esse foi o tema que pesquisei durante muitos anos, desde a minha graduação até o mestrado (que culminaram tanto na minha monografia, quanto na minha dissertação, respectivamente) e acredito na necessidade da construção, sempre em andamento, de um feminismo trans (e por isso, infelizmente, é necessário também falar das razões que levam parte, mesmo minoritária, do feminismo à cisnormatividade). Atualmente estou pesquisando a respeito das questões de saúde da população trans, especialmente das pessoas mais jovens. Se por um lado eu acabei deslocando o meu foco de pesquisa do feminismo para o campo da saúde, por outro, é digno de nota que as visões distorcidas dos feminismos anti-trans infelizmente são mais influentes na precarização da saúde da população trans do que se poderia a princípio imaginar.
As questões biopolíticas abordadas no texto, neste aspecto, permanecem, e poderíamos dizer até mesmo que estejam recrudescendo tendo em vista o acirramento dos pânicos morais fomentados pela extrema-direita. Vale a pena, portanto, conferi-lo, pois ele sintetiza o debate sobre pontos que, vire e mexe, sempre retornam e culminam na cisnormatividade: a ideia de que mulheres trans e travestis não são “verdadeiramente” mulheres em função da biologia ou da “socialização de gênero” e que, por serem supostamente homens seriam uma ameaça sexual em potencial para as mulheres cis, principalmente em espaços segregados por gênero, como os banheiros; o fato de passarmos por experiências sociais diferentes pretensamente justificar a deslegitimação das nossas identidades de gênero (percebam a falácia no encadeamento da ideia de que “mulheres trans e travestis não possuem as mesmas vivências e necessidades que mulheres cis e por isso não são mulheres de verdade”); a interpretação da ideia de que a demanda da população trans pelo reconhecimento da autenticidade de nossas identidades é algo da esfera da psicose (“pessoas trans negam o sexo biológico, a materialidade dos corpos, é necessário tratar a disforia de gênero sem as alterações corporais, que são verdadeiras mutilações”), do engano ou da ingenuidade política (“pessoas trans são um sintoma doentio da sociedade contemporânea de consumo, do individualismo e das teorias pós-modernas”) ou mesmo da futilidade (“movimento trans reproduz estereótipos de gênero, em uma sociedade verdadeiramente feminista e livre das opressões de gênero não existiria necessidade da transição de gênero”).
Aqui, vale a pena pontuar a respeito de um conceito, que usei para abordar os pontos supracitados, que merece ser destrinchado melhor, já que não me detive no texto de 2022: cisnormatividade. A princípio, podemos dizer que a cisnormatividade (ou também a cisheteronormatividade ou a cisnorma) refere-se à norma que estabelece a cisgeneridade como um tipo de padrão de gênero. Por mais que isso pareça dizer ainda pouco, na verdade, não se trata de uma banalidade, pois tal noção, além de permitir o questionamento a respeito de muitos processos ideológicos que tomamos como naturais, faz colocar em cena a própria noção de cisgeneridade. Para entendermos como a cisnormatividade se manifesta na prática, portanto, precisamos primeiro entender o que significa e o que implica a palavra cisgênero ou cisgeneridade e porque é praticamente impossível ou infrutífero pensá-las como noções de forma separada.
Umas das primeiras ocorrências da palavra cisgênero foi em 2001, com o The Transfeminist Manifesto, no qual a autora, Emi Koyama, precisamente utiliza o termo, nas suas palavras, para descentralizar o grupo dominante, expondo-o apenas como uma alternativa possível ao invés da “norma” contra a qual as pessoas trans são definidas. Ou seja, além de designar o antônimo de transgênero, o termo, no interior das reflexões do movimento trans e travesti, também significa diretamente na sua relação com o questionamento das normas de gênero que, ao naturalizar o gênero de pessoas cis, acabam por patologizar e/ou artificializar o gênero das pessoas trans.
No Brasil, é notável o trabalho de Hailey Kaas no início dos anos 2010 para o blog transfeminismo.com, no qual a autora propõe uma importante reflexão e definição da noção de cissexismo. Segundo ela, trata-se, de forma abrangente, da desconsideração da existência das pessoas trans na sociedade e do seu apagamento político por meio da negação das necessidades específicas. A partir desta definição, podemos observar que as noções de cisnormatividade, cissexismo e transfobia são bastante próximas, mesmo com nuances de sentidos distintos. Kaas entende que o termo cisgênero, no interior de uma teoria transfeminista, busca evidenciar o caráter ilusório da naturalidade da categoria cis. Portanto, para a autora a cisgeneridade é uma condição sobretudo política e seu funcionamento enquanto normatividade produz posições sociais de privilégio. Thiago Coacci observa, neste sentido, que a divulgação do termo cisgênero foi um dos primeiros passos para a construção de uma perspectiva transfeminista no contexto brasileiro ao longo dos anos 2010.
Ao refletir sobre os sentidos do gênero textual manifesto, Sara Wagner York, Megg Rayara Gomes Oliveira e Bruna Benevides concebem o pensamento Travesti e a trans-epistemologia como maneiras de resistir às situações de opressão e silenciamento. A relação que as autoras tecem e acho interessante de ser ressaltada aqui é precisamente entre o movimento político (o que inclui as formas individuais e coletivas de como concretamente sobrevivemos frente a diversos tipos de realidades excludentes, desde a família, o mercado de trabalho, até as escolas, universidades e demais instituições) e a construção de conhecimento, pois ambos andam juntos - neste sentido, o ato de questionar na prática as formas como a cisnorma interfere nas nossas vidas e o fato de resistirmos à opressão transfóbica produzem novos conhecimentos ou novas formas de produzi-lo, possibilitando um novo olhar para uma determinada questão.
Podemos considerar, na esteira dessas reflexões, que a cisnormatividade está no eixo central das diversas manifestações de opressões e vulnerabilidades que pessoas trans estão expostas em diferentes contextos, incluindo o campo biopolítico do acesso à saúde (especialmente no que diz respeito ao acesso aos diferentes tipos de recursos relacionados à transição de gênero). Por isso é tão importante saber nomeá-las: para melhor combatê-las por meio da análise e da denúncia crítica. Antes de tudo, para também compreendê-las, é importante levar em consideração a noção de interseccionalidade ao observarmos como diversos tipos de ataques reacionários se inter-relacionam.
Vejamos alguns exemplos de acontecimentos recentes provenientes dos EUA, que mostram o acirramento biopolítico de moralidades anti-trans, para pensarmos exatamente isso. O recrudescimento das medidas anti-aborto anda junto com os ataques contra o acesso aos cuidados de saúde para a população trans (especialmente a mais jovem). Diversas tentativas legislativas de proibir que crianças tenham contato com performances de drag queens expressam, na prática, uma política transfóbica que concebe a própria existência de pessoas trans e a inconformidade de gênero como impróprios ou obscenos para menores de idade. Pais de crianças trans e/ou de gênero inconforme tem sofrido com ameaças judiciais em razão de apoiarem a identidade de gênero de seus filhos[1] (ou seja, políticas anti-trans compreendem a aceitação familiar da identidade de gênero inconforme de uma criança como uma forma de abuso infantil).
Estes exemplos nos mostram que para lutar fundamentalmente pelos interesses da população trans temos que nos aliar com pessoas cis que se colocam como aliados de nossa luta e também estão, mesmo eventualmente ou circunstancialmente, expostas ao controle e à violência de gênero (nestes casos mencionados, respectivamente, sejam mulheres cis, em função do controle reprodutivo de seus corpos; sejam de pessoas cis que são drags, em função do ataque às suas expressões artísticas e/ou de gênero; sejam de pais e mães cisgêneros de filhos trans e/ou de gênero inconforme, em função da perseguição e das ameaças judiciais).
Assinalar a importância da aliança política com as pessoas cis já nos indica uma compreensão mais nuançada e dialética dos usos que fazemos da dicotomia cis/trans - o que não implica, obviamente, no abandono a priori da divisão, frequentemente propagada ao longo dos anos em algumas discussões que acabam por defender posições que flertam com a ideia, por exemplo, de que privilégio cisgênero não existiria ou de que nenhuma pessoa seria essencialmente cisgênera (vale a leitura neste sentido da minha resposta a uma entrevista de Richard Miskolci). A recusa da compreensão da produtividade das análises que utilizam as nomenclaturas cis/trans é ora fomentada por posições com vieses anti-trans mais nítidos, como o próprio feminismo radical trans-excludente, ora por posições ideológicas diversas que até mesmo poderiam ser tomadas por pessoas bem intencionadas, não fosse o flagrante descuido intelectual ao desconsiderarem, desconhecerem ou mesmo distorcerem a complexidade das teorizações críticas do movimento trans e travesti (conferir neste aspecto a segunda posição “negacionista” que desenvolvo na aula aberta sobre estudos da cisgeneridade para o projeto Gênero & Desiguladades, do Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu Unicamp).
Aqui eu acho que vale a pena fazer uma breve reflexão a respeito de como delimitamos as categorias identitárias. Refletir sobre como estamos traçando esses limites é importante, pois algumas vezes a forma como estamos fazendo essa delimitação acaba gerando tensões desnecessárias, sem ao menos conseguirmos ganhos significativos no avanço dos nossos direitos coletivos e da compreensão efetiva das nossas reais necessidades pela sociedade.
A princípio, a delimitação das categorias identitárias é necessária para darmos visibilidade a situações de injustiça e opressão: com isso nomeamos, por exemplo, os lugares de privilégio cisgênero. Nesse sentido, quando dizemos que sim, existem pessoas cis, estamos querendo apontar muito mais para o fato de que este grupo não está exposto diretamente e ostensivamente às violências transfóbicas do que dizer propriamente que elas se identificam individualmente com o gênero assignado no nascimento. Ainda nessa direção, somos também capazes de compreender porque algumas pessoas cis podem estar expostas a certas formas mais ou menos indiretas de violência ou controle cuja matriz é sim a transfobia ou a cisnormatividade (como quando elas são vistas como pessoas trans, por exemplo, e são agredidas ou hostilizadas); mas elas não são o alvo preferencial ou principal deste tipo de violência ou normatividade.
No entanto, é sempre importante termos em mente que qualquer análise sobre essas questões deve ser contextualizada (seja para casos individuais, seja para questões mais coletivas ou estruturais), de forma que possamos compreender a complexidade e a interseccionalidade das relações que envolvem as questões de gênero. Isso é importante para conseguir sermos críticos das situações de opressão que, por serem naturalizadas, frequentemente passam despercebidas e, ao mesmo tempo, sermos estratégicos na proposição de alianças com o maior número de grupos de pessoas distintas o possível tendo em vista atingir os nossos objetivos políticos.
Quando propomos a divisão cis/trans, as primeiras problematizações que frequentemente aparecem são a respeito justamente das vivências que estão ou podem estar no meio destas duas categorias, como das pessoas cis em inconformidade de gênero, tais como homens femininos e mulheres masculinas, as pessoas que destransicionaram ou ainda aquelas pessoas que estão no processo de questionamento ou descobrimento das suas identidades de gênero. As identidades não binárias, em que pese serem transgêneras por definição, também indicam experiências que podem se localizar no entremeio das categorias identitárias.
Uma análise sempre contextualizada a respeito das distintas experiências relacionadas a essas identidades nos torna capazes de identificarmos as inúmeras situações de vulnerabilidade ou privilégio sem fomentarmos falsos antagonismos ou mesmo rivalidade entre esses diferentes grupos. Isto se dá pois não há nenhum real antagonismo entre os grupos quando falamos sobre as vivências específicas (incluindo situações de vulnerabilidade e opressão) e as necessidades pelas quais todos os mais diversos grupos passam. York, Oliveira e Benevides propõem, em forma de manifesto, que as diversas identidades, sejam travestis, transexuais e transvestigeneres, não devem ser hierarquizadas, e que não existe uma única forma de vivenciá-las. Não podemos também generalizar nossas próprias experiências sobre as demais pessoas, pois corremos o risco de descaracterizar violentamente as suas reais experiências, que só podem ser narradas em primeira pessoa (este aspecto em particular será desenvolvido adiante no que diz respeito precisamente às vivências de destransição).
Voltando à questão dos ataques aos direitos de saúde trans, os EUA têm mostrado um número cada vez mais crescente de jovens correndo o risco de perderem o acesso a recursos de afirmação de gênero em função de leis recentemente aprovadas. Tais ataques, além de violar diretamente a saúde e os direitos destes jovens, devem ser entendidos também como uma maneira de como os movimentos anti-trans atuais estão buscando se organizar tendo em vista o bloqueio deste acesso para as pessoas adultas.
Para tanto, as narrativas e os casos de destransição[2] têm sido progressivamente utilizadas por diversos grupos anti-trans nos últimos anos, sejam feministas radicais trans-excludentes, fundamentalistas religiosos e de extrema-direita, tais como os portais brasileiros QG Feminista, Notícias Gospel e Gazeta do Povo, respectivamente.
Podemos definir a destransição como a volta para o papel de gênero que coincide com o sexo designado ao nascimento que ocorre depois de um processo de transição. Pessoas que destransicionam podem ter se arrependido de terem iniciado a transição de gênero, mas isso não ocorre necessariamente (ao contrário do que frequentemente supõem os discursos anti-trans). A destransição pode envolver aspectos médicos e/ou sociais destinados a reverter uma transição de gênero.
Pode parecer óbvio, mas é sempre bom ter em mente que, assim como pessoas trans, pessoas destrans não apresentam uma única ideologia ou opinião específica sobre determinada questão - elas não defendem necessariamente opiniões cisnormativas, mesmo quando eventualmente vivenciaram experiências individuais negativas em relação às suas transições de gênero; como veremos na discussão a seguir, as nossas experiências individuais não ditam ou determinam mecanicamente nossos posicionamentos (e os nossos posicionamentos não devem decorrer ou se guiarem unicamente a partir das nossas experiências, pois elas são circunstanciais e não refletem necessariamente as experiências de outras pessoas, tampouco podem servir de critério absoluto de verdade sobre uma dada questão); tampouco devem servir como regras ou modelos rígidos para interpretar as experiências das demais pessoas.
A politização dessas narrativas como um argumento para suscitar o maior controle do acesso aos recursos de transição de gênero (ou, para posições mais radicalizadas, a própria proibição ou medidas que visem torná-lo mais inacessível o possível, independentemente do real benefício a um grupo significativo de pessoas) parece ser particularmente persuasivo frente a opinião pública no que se refere às pessoas mais jovens (sob as premissas, aqui, que crianças e adolescentes precisam ser protegidos, e a transição de gênero, portanto, como uma possível “ameaça” a elas). O relato de uma pessoa adulta que transicionou durante a sua infância ou adolescência e destransicionou na idade adulta, ao servir como uma espécie de “caso exemplar”, pode suscitar a ideia de que seria necessário, desejável e/ou possível restringir o acesso a recursos de afirmação de gênero para todas as crianças e adolescentes com o pretenso objetivo de evitar arrependimentos de forma retrospectiva e hipotética.
Por mais que as narrativas de destransição sejam usadas retoricamente como provas exemplares de que a transição de gênero é perigosa e indesejável, o verdadeiro ponto que militantes anti-trans querem provar é, antes de tudo, que a transição é perigosa, indesejável e deveria ser, no limite, completamente proibida ou inviabilizada por meios diversos. Ao dizer isso quero pontuar que, na escassez ou mesmo na ausência de um número massivo de relatos reais de destransição e/ou arrependimento, o ponto de vista político defendido por estes grupos anti-trans invariavelmente irá permanecer exatamente o mesmo: a transição de gênero é moralmente condenável, essencialmente danosa para a saúde individual e coletiva e, portanto, deve ser ou se tornar mais inacessível o quanto for possível (ou seja, esforços políticos deveriam ser despendidos com o objetivo de erradicar ou dificultar ao máximo o acesso aos serviços e recursos para transição, ou pelo menos reverter ou impedir a expansão daqueles já existentes).
Ou seja, trata-se muito mais de encontrar uma justificativa ou um argumento para corroborar o posicionamento ideológico anti-trans previamente estabelecido do que propriamente pensar sobre as reais vivências e necessidades das pessoas destrans. Tratam-se de ideias tais como a de que as alterações corporais associadas à transição de gênero sejam em si mesmas mutilações inaceitáveis e que nenhuma pessoa, portanto, poderia consentir com esses procedimentos, ou ainda a de que seria desejável e possível impedir o acesso aos recursos de alteração corporal com base na possibilidade futura de arrependimento ou destransição, sob a justificativa de que poderiam ser, de alguma forma, evitados.
Em discursos transfóbicos, os casos de destransição são usados apenas para ilustrar os “perigos” da transição – ao invés de realmente lutar para a melhoria da saúde deste grupo vulnerável. Além disso, enfocar desproporcionalmente os aspectos médicos que podem envolver as demandas de uma pessoa trans em sua transição de gênero, tais como os riscos inerentes aos processos de alteração corporal, é também uma estratégia de discursos anti-trans. Já escrevi neste sentido, em um texto para o transfeminismo, que a transição de gênero deve ser entendida antes de tudo como a forma como expressamos o nosso gênero e vivemos a nossa vida, ela não é, portanto, algo da esfera do poder de decisão dos profissionais de saúde.
As vivências de destransição também colocam em cena a questão da delimitação das identidades, tendo em vista que elas precisamente se localizam no intermeio das categorias cis e trans. Os casos de destransição e/ou arrependimento são comumente retratados como exemplos capazes de evocar dúvidas sobre a capacidade das pessoas trans de tomarem as decisões relacionadas à transição de gênero, pois eles levantam a possibilidade de que algumas pessoas mudam de ideia depois de terem feito mudanças permanentes ou possivelmente permanentes em seus corpos. Em razão disto, muitos médicos que oferecem cuidados de transição de gênero organizam a avaliação clínica com o objetivo central de evitar, o quanto for possível, o arrependimento e a destransição, seja em razão do possível dano causado aos usuários de saúde ou do receio de serem responsabilizados judicialmente.
No entanto, para além da defesa de um maior controle dos profissionais ao acesso às alterações corporais, a possibilidade de arrependimento também acaba sendo utilizada como um argumento para posicionamentos muito mais extremos por discursos mais radicalizados, como a completa proibição do acesso a qualquer recurso de afirmação de gênero, incluindo o apoio psicossocial, sob duas premissas básicas, portanto: 1) as demandas da população trans por alteração corporais são diretamente antagônicas às necessidades da população destrans, por infligir danos a este segundo grupo; 2) as alterações corporais são, em si mesmas, mutilações, independentemente dos relatos das pessoas trans que se beneficiaram delas e das evidências empíricas que mostram que são seguras, eficazes e com baixíssimo índice de arrependimento.
MacKinnon et al. argumentam que as práticas de avaliação e o projeto discursivo de “prevenção do arrependimento” refletem profundamente como a cisnormatividade rege a biomedicina - incluindo os cuidados de afirmação de gênero. Predizer a identidade de gênero final de um jovem ou prevenir a destransição, e mesmo o arrependimento podem ser, no limite, impossíveis de serem feitos (mesmo com avaliação psiquiátrica ou psicológica “rigorosa”), tendo em vista o aspecto dinâmico da identidade de gênero, o que pode necessitar, por sua vez, que os médicos forneçam apoio independentemente dos desfechos clínicos e percursos de transição de gênero. Turban e Keuroghlian também argumentam que o fato de existirem jovens que decidiram passar por procedimentos hormonais e posteriormente destransicionam não nos permite concluir que esta decisão tenha sido inadequada na época, tampouco que houve algum erro clínico ou que seja motivo para alarme.
Se, por um lado, a politização dos relatos de destransição com objetivos anti-trans é criticável (pessoas destrans que eventualmente disseminam desinformação a respeito da saúde da população trans, por exemplo, devem ser responsabilizadas e criticadas como qualquer outra, e suas experiências eventualmente negativas com a transição, como o arrependimento, não justificam, tampouco provam, a ideia que a transição seja prejudicial para todas as demais), por outro, é preciso ter em mente que não existe real antagonismo entre os interesses das pessoas destrans e trans.
Quando observamos a pluralidade das vivências e relatos das pessoas destrans podemos atestar que suas necessidades de fato caminham lado a lado das necessidades das pessoas trans - tal como a luta contra o estigma e preconceito contra as pessoas de gênero diverso; vale a pena lembrar que muitas pessoas destrans frequentemente continuam sendo lidas como pessoas com variabilidade ou inconformidade de gênero, pois suas aparências podem não corresponder a um ideal cisnormativo de corpo, por exemplo.
Pessoas que destransicionaram em razão da adesão a posicionamentos ideológicos nitidamente cisnormativos (provenientes de ideologias como feminista radical trans-excludente ou religiosa, podendo até mesmo terem passado por terapias de conversão de identidade de gênero) podem, presumidamente, estarem mais propensas a se arrepender da destransição futuramente e voltarem a se identificar como trans caso tais ideologias, religiões ou movimentos se tornem, posteriormente, inconsistentes com suas vivências e reais necessidades. Obviamente isso pode ser profundamente traumático. A internalização da transfobia que estas ideologias promovem é capaz de produzir traumas profundos e de fato algumas pessoas destrans podem acabar se engajando em movimentos anti-trans por períodos consideráveis de tempo ou mesmo indefinidamente. Essas experiências são relatadas de forma minuciosa por Ky Schevers e Lee Leveille no Health Liberation Now!
Jude Ellison S. Doyle observa que algumas dessas pessoas que colocam a destransição como não apenas parte importante da sua trajetória de vida, mas também como uma espécie de bandeira política com viés cisnormativo (no sentido, por exemplo, de “alertar” sobre os “perigos” das “mutilações” corporais), continuam paradoxalmente com os mesmos tratamentos ou recursos de afirmação de gênero que acabaram de deplorar e condenar publicamente. Algumas podem até mesmo reconhecer que uma destransição, de fato, não ocorreu, mas insistem, de forma às vezes até mesmo ressentida, na reprodução de um discurso cisnormativo sobre alguma forma de arrependimento pela transição. Isto, por um lado, pode colocar em dúvida até que ponto essas pessoas seriam “realmente destransicionadas” - de fato as vivências dessas pessoas são múltiplas, complexas, até mesmo contraditórias, e dificilmente poderiam ser facilmente enquadradas por uma única categoria identitária ou experiência. De qualquer forma, isto mostra que, infelizmente, todas as pessoas são capazes de internalizar e reproduzir discursos cisnormativos - sejam pessoas trans ou destrans, independentemente de suas identidades de gênero e vivências, portanto (se pararmos para pensar melhor sobre isso, não deveria ser uma surpresa na verdade, tendo em vista a hegemonia da cisnormatividade em diversas sociedades como uma ideologia dominante sobre vivências e experiências de inconformidade de gênero).
A crítica à cisnormatividade deve ser feita independentemente disto, ou seja: pouco importa se uma pessoa é trans, cis, ou destransicionou; pouco importa qual é a sua trajetória de vida em termos de experiências pessoais; se ela está defendendo pontos de vistas estigmatizantes sobre os corpos das pessoas trans (a ideia autoritária, por exemplo, de que nenhuma pessoa deveria ter o acesso às alterações corporais relacionadas à transição de gênero; que nenhuma pessoa efetivamente se beneficia das alterações corporais relacionadas à transição de gênero; que o Estado deva criar empecilhos legais para o acesso a cuidados de saúde específicos ou que os serviços atualmente disponíveis devem ser fechados ou restringidos; que jovens não deveriam ter o direito de expressarem livremente suas identidades trans) ela não está falando apenas sobre a sua própria vivência ou a sua relação com seu corpo, mas está produzindo uma generalização indevida, enganosa e prejudicial para todas as demais pessoas que de fato se beneficiam destes cuidados e recursos (e iriam, portanto, serem profundamente prejudicadas caso não tivessem ou não tenham acesso a eles).
Todos os relatos e as experiências individuais devem ser sim ouvidos, acolhidos e compreendidos, incluindo aqueles das pessoas que destransicionaram e se arrependeram - mas eles não podem ser aplicados como se fossem uma verdade rígida e universal, ou fossem capazes, neste sentido, de predizer o arrependimento de todas as demais pessoas ou provar que ninguém deveria transicionar.
Muito se discute neste contexto a respeito dos potenciais danos a respeito da transição de gênero para pessoas que se arrependem e destransicionam. No entanto, é preciso levar em consideração o trauma gerado pelos discursos transfóbicos que impedem autonomia corporal para todas as pessoas de gênero diverso e estabelecem a cisgeneridade como norma. A destransição também pode ser traumática e não “funcionar”. Pessoas destrans podem continuar tendo que lidar com a disforia de gênero – e nem sempre a destransição, sobretudo a destransição ideologicamente motivada, de fato é a solução para os seus problemas.
Como conclusão, eu acredito que falar mais um ano sobre visibilidade trans e, com isso, reafirmar o desejo de que a nossa comunidade fique mais fortalecida politicamente e que possamos ter o acesso a uma vida mais significativa e digna, necessita que tenhamos, ao mesmo tempo, um olhar aguçado para as críticas de todas as situações de opressão e uma disposição para o diálogo entre diversos grupos, tendo em vista a construção estratégicas de alianças. Fomentar antagonismos e rivalidades biopolíticas entre os diversos grupos é uma estratégia atual do movimento anti-trans (especialmente, neste caso, entre os grupos com distintas questões e/ou especificidades relacionadas ao gênero). Cabe a nós darmos, assim, uma resposta qualificada e à altura.
[1] O seguinte trecho do Manifesto Travesti (p. 9) evidencia a relevância do acolhimento familiar: “Não quer ter uma filha travesti, não tenha filhos. As chances de ter uma filha trans é a mesma de um/a/e filho/a/e destro/a/e ou canhoto/a/e. Acolham as crianças trans e travestis, é nesse momento que mais precisamos de apoio”.
[2] Iremos designar neste texto como pessoas destrans aquela pessoa que passou pela destransição.
Como citar este artigo:
BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. Visibilidade trans 2023: as questões biopolíticas permanecem. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, Janeiro de 2023, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Sara Wagner York, Felipe Carvalho, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel.