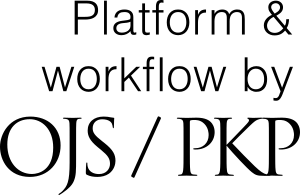NOTAS SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CISNORMATIVIDADE

Por Bruno Latini Pfeil
Graduado em Psicologia (USU/RJ). Graduando em Antropologia (UFF). Pós-graduando em Psicanálise e Relações de Gênero: Ética, Clínica e Política (FAUSP). Cofundador e coordenador da Revista Estudos Transviades.

Por Cello Latini Pfeil
Mestrando em Filosofia (PPGF/UFRJ). Pesquisador do CPDEL. Cofundador da Revista Estudos Transviades.
A compreensão das violências institucionais que afetam a mais ampla diversidade de corpos precisa ocorrer concomitantemente ao reconhecimento das estruturas de opressão que promovem sua perpetuação. No campo das violências de gênero, as violências com as quais nos deparamos se alicerçam em uma norma cisgênera, heterossexual, endossexo e branca, que afeta corpos trans, intersexo, negros e indígenas. Como pontua Favero (2019, p. 177), “a cisgeneridade está articulada com a branquitude e a heteronormatividade, bem como de outros marcadores sociais, sexuais, de classe, raça e etnia, na produção da diferença”. Ou seja, nossa perspectiva sobre cisgeneridade deve considerar os múltiplos marcadores sociais da diferença, que são reificados por vias institucionais. A perpetuação das violências ocorre, então, sob aporte de sua institucionalização. Em vias de compreendermos como opera a transfobia institucional, é fundamental que consideremos o surgimento da transexualidade como categoria diagnóstica pela medicina moderna cisnormativa.A partir da segunda metade do século XX, a transexualidade é apontada pela medicina/psiquiatria enquanto oposição a uma suposta normalidade. Por meio de discursos médicos, psiquiátricos, psicanalíticos e até mesmo religiosos, pessoas trans/gênero-dissidentes estiveram historicamente à mercê de sujeitos em posições de poder, resguardados por instituições que os legitimavam. Tal cenário pode ser definido como uma monocultura do saber (SANTOS, 2007), a partir da qual somente um conhecimento é validado e tido como científico. De dentro das instituições, corpos marginalizados foram compreendidos como objeto de estudo, não como sujeitos de si.
No decorrer da operacionalização da violência, percebemos o papel fundamental de forças instituições na reiteração de dicotomias: entre os ‘normais’ e os trans, os sujeitos e os sujeitados. Pessoas trans se percebem imbuídas a se submeterem a normativas específicas se desejarem acessar – por mais tênue que seja este acesso – determinados serviços de saúde. As normas cisgêneras, por sua vez, são calcadas em contraste com seu antagonismo: a contra-norma, aquilo que deve ser extirpado e corrigido do tecido social. Submetendo-se às normas cisgêneras, pessoas trans são continuamente destituídas de sua autodeterminação. Como escrevem York, Oliveira & Benevides (2020, p. 3),
O direito à autodeterminação delibera a todos os corpos (cis/trans) a possibilidade da autonomia sobre a escolha em retificar nome e gênero e, com isso, uma vez mais experienciam a adequação à norma como única forma de inserção cível e acesso às políticas públicas.
A autodeterminação é fundamental a todos os corpos, mas é cerceada, particularmente em nosso contexto de estudo, nas experiências de pessoas trans no campo da saúde. Apesar de nossa crítica ao sistema de saúde e à transfobia que este reproduz, não temos como objetivo defender o fim de ambulatórios trans e determinados serviços voltados exclusivamente a pessoas trans. A existência destes espaços é de extrema importância para que tenhamos acessos básicos. O problema, contudo, é a estrutura que o fundamenta; a estrutura moderna/colonial, alicerçada na monocultura do saber, na inferiorização epistêmica (GROSFOGUEL, 2016), no autoritarismo científico tão criticado por Bakunin (1975). A existência de ambulatórios trans explicita o caráter cisnormativo de todos os outros ambulatórios e dispositivos de saúde. Se pessoas trans fossem aceitas e cuidadas de maneira geral, por que seria preciso haver ambulatórios trans, ou endocrinologistas especializados em nossos corpos? O que há de tão particular em nossas existências e corporalidades que requer um particularismo?
As primeiras concepções modernas de transexualidade surgiram pela medicina enquanto categoria diagnóstica. Assim, recorremos ao campo da saúde para analisar as violências realizadas contra pessoas trans, pois a saúde, por mais antagônico que soe, é o berço de patologização. Como escreve Grosfoguel (2012, p. 348),
O projeto de nação é o esforço permanente de apagar constantemente sua margem com o propósito de reificar o espaço homogêneo que se constrói com a exclusão de outros. Estes “outros” são sempre os grupos raciais e sexuais patologizados.A isso, Grosfoguel (2016, p. 30) traz o conceito de racismo/sexismo epistêmico, caracterizado como “a inferioridade de todos os conhecimentos vindos dos seres humanos classificados como não ocidentais, não masculinos ou não heterossexuais”, e não cisgêneros e endossexo, complementamos. Não nos surpreende que os discursos hegemônicos sobre transexualidade, fortalecidos principalmente a partir da década de 1960, tenham surgido nos Estados Unidos.
Antes disso, em 1919, o termo ‘transexualismo’ já havia sido mencionado por Magnus Hirschfeld e, em 1949, por David O. Cauldwell, em seu artigo Psychopatia Transexuallis (ARAN; MURTA, 2009). As menções à transexualidade mais próximas do que consta nos manuais diagnósticos difundidos pela comunidade médica internacional surgiram na década de 1950, nos Estados Unidos, pelos estudos do endocrinologista Harry Benjamin (BENTO; PELÚCIO, 2012). Benjamin foi o primeiro a cunhar o termo ‘fenômeno transexual’, e acreditava que pessoas trans precisavam ser readequadas fisicamente ao seu ‘sexo psíquico’ por meio de cirurgias e hormonização. Contudo, tal readequação requereria uma espécie de processo seletivo para saber se o sujeito em questão seria um ‘transexual de verdade’.
O psiquiatra Robert Stoller, por outro lado, discordava de Benjamin e refutava veementemente a realização de cirurgias e hormonização. Segundo ele, pessoas trans deveriam ser ‘convencidas’ de que não eram transexuais, de que sua identidade de gênero se reduzia a um delírio. O médico John Money, por sua vez, afirmava que a identidade sexual se desenvolveria até os três anos de vida, sendo possível moldar o sujeito enquanto homem ou mulher como se este fosse uma tábula rasa. A ‘condição transexual’ ocorreria em detrimento de uma falha educacional, geralmente atribuída à figura materna.
Ao longo da década de 1960, o ‘tratamento’ da transexualidade foi gradualmente institucionalizado por meio de clínicas e ambulatórios especializados, tais como a Clínica de Identidade de Gênero no Hospital John Hopkins. Seguindo pela perspectiva benjaminiana, os procedimentos cirúrgicos voltados a pessoas trans se complexificaram, tal como o conjunto de sintomas e o processo diagnóstico. A transexualidade passa a ocupar manuais diagnósticos, como o Código Internacional de Doenças, em 1980, e o DSM-IV, em 1994, que substitui o termo ‘transexualismo’ por ‘transtorno de identidade de gênero’. Pessoas trans são categorizadas e subcategorizadas conforme o profissional que as analisava.
A décima edição do CID preconizava, por instância, categorias como “travestismo bivalente (F64.1), transtorno de identidade sexual na infância (F64.2), outros transtornos da identidade sexual (F64.8), transtorno não especificado da identidade sexual (F64.9)” (BENTO, 2011, p. 94). Ao passo em que o CID foi mais influenciado pelo pensamento benjaminiano, o DSM se alicerçou no pensamento stolleriano. Por um lado, a endocrinologia busca descobrir a raiz biológica da transexualidade, fornecendo ao sujeito sua readequação social fisiológica; por outro, os saberes psi – psiquiatria, psicologia e psicanálise – procuram destrinchar os mecanismos psíquicos a partir dos quais tal ‘desvio’ se efetuaria: o desvio da incongruência de sexo/gênero.
Independentemente da abordagem, seja benjaminiana ou stolleriana, ambas partem do princípio de que pessoas trans não são capazes de se autodeterminar, e de que possuem “um conjunto de indicadores comuns que as posicionam com transtornadas, independentemente das variáveis históricas, culturais, sociais e econômicas” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 572). De acordo com tais manuais e discursos médicos, a pessoa trans não é capaz de se legitimar enquanto tal; a determinação de sua transexualidade, ou da veracidade de sua alegação, é feita pelos detentores do privilégio epistêmico (GROSFOGUEL, 2016): médicos e profissionais de saúde cisgêneros. Cabe a eles determinar se a pessoa trans pode ou não ter acesso a certos serviços de saúde.
Percebe-se, assim, uma padronização do atendimento a pessoas trans por profissionais de saúde. Conforme Jesus (2016, p. 198), estes acabam “desconsiderando suas particularidades, ou considerando, iniquamente, que todas as suas demandas de saúde se restringem ao processo transgenitalizador”. A legitimação de nossa transexualidade ocorre mediante a reprodução de discursos cisgêneros, de sintomas de ‘disforia de gênero’ e de ódio ao próprio corpo. São discursos reforçados por acadêmicos cisgêneros que estudam a transexualidade, ou melhor, que pesquisam pessoas trans, que desejam saber “como [as travestis] se organizavam, comiam e viviam totalmente fora de qualquer possibilidade de inclusão social” (YORK; OLIVEIRA; BENEVIDES, 2020, p. 4). É deste ponto que partem os saberes academicamente legitimados sobre transexualidade: de uma monocultura do saber que somente confere a corpos cis a capacidade de determinar o que é ser trans.
Mas se ‘transexualidade’ foi conceituada como uma patologia por acadêmicos cisgêneros, brancos e heterossexuais, ‘cisgeneridade’ partiu de outro viés, de fora do meio acadêmico: “Não tendo sido um conceito originado pela academia e que se espalhou pelos núcleos militantes Brasil adentro, a cisgeneridade passou a ser compreendida como uma resposta às tradicionais formas de nomear pessoas trans e travestis como “anormais” ou “falsas”” (FAVERO, 2019, p. 192). É um conceito que substitui o ‘homem/mulher de verdade’, ou o ‘homem/mulher normal’, pois se houvesse um antagonismo à normalidade, nesse caso, a transexualidade seria colocada como anormal.
O conceito de cisgeneridade nasceu no seio de movimentos trans autônomos, como uma reação à patologização da transexualidade, à dicotomia entre transexualidade e normalidade (AULTMAN, 2014). Ou seja, ‘cisgeneridade’ não foi elaborado por dentro dos muros institucionais da academia, da monocultura do saber e do privilégio epistêmico. É um conceito elaborado em diálogo com uma implicação política, em oposição a uma norma reconhecida como natural; e não é uma categoria pensada isoladamente, pois se“[…] todos possuem gênero, raça, lugar social, classe, sexualidade, mobilidade, dentre outros, o que assume é que a cisgeneridade nunca está sozinha” (FAVERO, 2019, p. 186).
É comum que, ao levarmos este conceito à academia, recebamos negação. Acadêmicos pesquisadores da transexualidade, ao se depararem com o conceito de cisgeneridade, comumente reagem afirmando serem ‘não-trans’, ou serem ‘somente um homem/mulher, nem cis nem trans’. A cisgeneridade, alinhada à branquitude e à heteronorma, nega a si própria, e isso revela mais do que pode parecer – a negação da cisgeneridade em relação a si mesma denuncia sua resistência em se desgarrar daquilo que lhe é atribuído desde a patologização da transexualidade: o caráter de normalidade e sua universalização. A ciência universalista se ergue, então, sobre a opressão intelectual, que, segundo Bakunin, é característica de uma academia revestida de soberania.
Em suma, inicialmente, somos nomeados pela medicina moderna e tidos como incapazes de nos autodeterminar; como reação, nomeamos aquele que nos nomeiam. Atribuímos ao fenômeno de rejeição da ‘cisgeneridade’ a noção de “ofensa da nomeação”, pois a reação de acadêmicos cisbrancos diante de sua designação enquanto ‘cis’ se assemelha à reação de um indivíduo diante de uma ofensa – nervosismo, negação, rejeição, e por vezes a adoção de um tom de voz intempestivo. Como escrevemos em outro artigo,
Nomeando-os, os cis não passam a ocupar um lugar social distinto, não deixam de ocupar o lugar de pesquisadores e de desvalidar o que nós mesmos temos a dizer sobre quem somos, mas passam por um processo inédito de exposição de suas corporalidades (PFEIL & PFEIL, 2022: 180)A invalidação da categoria ‘cisgeneridade’ é, em nossa observação, frequentemente sustentada em argumentos biológicos – a afirmação ‘sou somente uma mulher/homem’ está carregada das noções dicotômicas de mulher/vagina e homem/pênis. A instituição “saúde”, ao reforçar essa dicotomia, opera não em defesa do bem-estar geral dos corpos, mas sim pela reprodução de uma norma que se mantém em operação, que se inscreve continuamente na generificação dos corpos. Ao identificarmos o fenômeno da ‘ofensa’, identificamos, também, a fragilidade das fronteiras estabelecidas na generificação. É regra que estudantes trans, durante a graduação, tenham de enfrentar inúmeras discriminações, mas em programas de mestrado e doutorado tais discriminações, além de se manterem, se expandem a “questionamentos velados quanto à sua isenção” (YORK; OLIVEIRA; BENEVIDES, 2020, p. 3), quanto à sua capacidade de produzir conhecimento, ao passo que pesquisadores cisgêneros – que raramente reconhecem ou utilizam o conceito de cisgeneridade – têm suas pesquisas sobre transexualidade legitimadas na academia.
O reconhecimento da cisgeneridade caminha com o reconhecimento de que as violências de gênero são institucionalmente garantidas; de que a transexualidade foi conceituada por um viés patologizante que moldou o modo como instituições de saúde, de ensino e jurídicas discriminam corpos trans; de que a autodeterminação de pessoas trans é anulada diante da afirmação de uma suposta normalidade; de que as identidades modernas são sistematicamente naturalizadas, e de que sua desnaturalização é um passo fundamental para o combate contra a transfobia institucional. Reiteramos a necessidade de que os acadêmicos cisgêneros “Não falem de nossos nós, por nós e/ou sem nós!” (YORK; OLIVEIRA; BENEVIDEZ, 2020, p. 8); que não tratem de ‘cisgeneridade’ como tratariam de uma ofensa, mas que compreendam este conceito como elemento fundamental para reconhecermos as estruturas de opressão que determinam pessoas trans como incapazes de produzir conhecimento.
REFERÊNCIAS
ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela. Do diagnóstico de transtorno de identidade de gênero ás redescrições da experiência da transexualidade: uma reflexão sobre gênero, tecnologia e saúde. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 19 [1]: 15-41, 2009.
AULTMAN, B. L. Cisgender. TSQ: Transgender Studies Quarterly, 2014, 1(1-2), 61–62. doi:10.1215/23289252-2399614
BAKUNIN, Mikhail. O Conceito de Liberdade. Coleção Substancia, Edições RÉS Limitada. Trad. Jorge Dessa. Porto: 1975.
BENTO, B. Corpo, gênero e sexualidade: instâncias e práticas de produção nas políticas da própria vida / Luís Henrique Sacchi dos Santos, Paula Regina Costa Ribeiro (orgs.). – Rio Grande: FURG, 2011.
BENTO, B; PELÚCIO, L. Despatologização do gênero: a política das identidades abjetas. Florianópolis: Revista Estudos Feministas, 20(2):256, 2012.
FAVERO, Sofia. Cisgeneridades precárias:: raça, gênero e sexualidade na contramão da política do relato. Bagoas-Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 13, n. 20, 2019.
GROSFOGUEL, Ramón. Descolonizar as esquerdas ocidentalizadas: para além das esquerdas eurocêntricas rumo a uma esquerda transmoderna descolonial. Revista Contemporânea, v. 2, n. 2, p. 337-362, 2012.
GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Revista Sociedade e Estado, v. 31, n.1, 2016.
JESUS, J. G. Medicina: uma ciência Maligna? Debate psicopolítico sobre estereótipos e fatos. Revista Periódicus. v. 1, n. 5, 2016. Salvador. E-ISSN: 2358-0844
PFEIL, B. L.; PFEIL, C. L. A ofensa da nomeação. Salvador: Editora Devires, 2022.
SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007.
YORK, Sara Wagner; OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes; BENEVIDES, Bruna. Manifestações textuais (insubmissas) travesti. Revista Estudos Feministas, v. 28, 2020.
Como citar este artigo:
PFEIL, Bruno Latini; PFEIL, Cello Latini. NOTAS SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CISNORMATIVIDADE. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, Janeiro de 2023, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Sara Wagner York, Felipe Carvalho, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel.