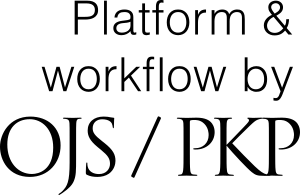Museus e Desinformação: por que devemos falar sobre isso?
Autoria: Frieda Maria Marti
Este artigo é um desdobramento da minha participação como palestrante convidada do V Encontro Nacional da Associação Brasileira de Centro e Museus de Ciências (ABCMC), que ocorreu entre os dias 12 a 14 de agosto de 2025 na cidade de Maringá, Paraná. Foi a primeira vez que apresentei a palestra, título deste artigo, em um evento científico. Porém, já me dedicava à leituras, pesquisas e práticas sobre a temática há alguns anos.
Apresento aqui, portanto, minha palestra sob a forma de texto, sendo a mesma um compartilhamento de minhas inquietações, dilemas e angústias, e uma convocação ao campo museal e da divulgação das ciências à reflexão e atuação em relação ao tema.
A desinformação não é um fenômeno recente. Desde que nos entendemos como humanos, ela atravessa nossos cotidianos. Porém, no contexto sociotécnico contemporâneo, em que as tecnologias digitais em rede (a partir da web 2.0) romperam com a lógica da comunicação massiva (um-todos), e possibilitaram a produção, disseminação e compartilhamento global de informações/desinformações em uma perspectiva todos-todos, o fenômeno se agudizou e vem gerando preocupação em escala mundial. Desse modo, para compreender a desinformação em rede e seus desdobramentos na sociedade, é necessário compreender o atual cenário sociotécnico, mas também não descartar o cenário econômico e político contemporâneo.
André Lemos (2021a; 2021b) discute como a vida e as relações sociais são convertidas em dados (dataficação) na atual fase da cibercultura. Isso ocorre por meio dos diversos usos dos serviços oferecidos (saúde, alimentação, transporte, educação, financeiros, etc) e interações (redes sociais) que estabelecemos pelas/com as plataformas digitais (plataformização), e do monitoramento e atuação dos algoritmos (performatividade algorítmica) nas mesmas. Nos encontramos, então, em uma fase cibercultural em que nossas vidas foram plataformizadas, transformadas em dados rastreáveis que são monitorados, coletados, processados, tratados, compartilhados e monetizados pela performatividade algorítmica, afetando/modificando, por sua vez, nossas ações, comportamentos, sentimentos e conhecimentos. Esse cenário se torna ainda mais crítico quando nos damos conta de que toda essa infraestrutura tecnológica de plataformização, dataficação e performatividade algorítmica (PDPA) está sob o controle majoritário de cinco empresas de tecnologia: Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft (GAMAM), as conhecidas BigTechs, em um contexto econômico mundial capitalista e neoliberal que alimenta e fortalece essa ‘engrenagem’.
É claro que esse cenário gera desdobramentos sociopolíticos, econômicos, culturais e cognitivos como, por exemplo: (a) a privatização do discurso público, em que as plataformas digitais controlam a circulação de discursos nas redes, substituindo as instituições públicas nesta curadoria e moderação de conteúdos (Gillespie, 2018); (b) a vigilância e erosão da privacidade, em que todos os aspectos de nossas vidas são transformados em dados monitoráveis, e o engajamento humano é transformado em valor econômico, nomeado por Zuboff (2019) de capitalismo de vigilância; (c) o colonialismo digital, discutido por Silveira (2020) como imposição de infraestruturas e lógicas neoliberais a países do Sul Global, criando novas dependências; (d) a algoritmização do espaço público e a formação de bolhas informacionais online que reforçam vieses ideológicos e criam ‘realidades paralelas’ (Pariser, 2011); (e) e a amplificação algorítmica de conteúdos extremistas e de desinformação altamente engajáveis, mesmo que sejam falsos ou perigosos (Wardle & Derakhshan, 2017), que acentuam o negacionismo científico e o fenômeno da pós-verdade. Agora pensem em todos esses desdobramentos associados à ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo! Angustiante e preocupante, não é mesmo?!
Apresentado resumidamente o cenário cibercultural contemporâneo, desejo a seguir compartilhar minha compreensão sobre o conceito e fenômeno da desinformação. Tomo como base o livro de Raquel Recuero ‘A Rede da Desinformação: sistemas, estruturas e dinâmicas nas plataformas de mídias sociais’, publicado em 2024. A autora apresenta e discute a desinformação como: (a) um problema sistêmico que não pode ser compreendido apenas como objeto material ou enfrentado por uma única estratégia; (b) um problema da plataformização da sociedade agravado pelo sistema econômico que guia sua monetização, se configurando em um negócio para quem financia e para as plataformas; (c) um gerador de efeitos no sistema social, reduzindo a confiança das pessoas nas informações compartilhadas causando danos a governos e Estados, afetando decisões coletivas, políticas públicas e ameaçando democracias, mas que também pode gerar ganhos de capital social (influência/reputação) e econômico a certos indivíduos. Para Recuero (2024) a desinformação só pode ser compreendida como um sistema desinformativo, um conjunto de elementos em interação, que está acoplado ao sistema de mídias sociais e usado para manipular/influenciar/prejudicar estados, populações e/ou grupos sociais por meio de fluxos de conteúdos que confundem desacreditam e prejudicam os atores sociais, gerando danos à sociedade como um todo. Dessa forma, a desinformação é analisada pela autora a partir de três perspectivas: (a) como objeto material, ou seja, como informação problemática que alimenta o caos e a entropia, gerando danos aos atores sociais; (b) como processo que inclui as dinâmicas e os atores dos sistemas desinformativos que interferem na sociedade e (c) como efeito, ou seja, os desdobramentos/ressonâncias nos sistemas sociais. Temos assim um cenário em que o fenômeno é muito mais complexo do que aparenta, precisando de nossa atenção para além de sua configuração como objeto material.
Um panorama sobre a desinformação no Brasil pode ser obtido a partir de pesquisas recentes. Segundo o Relatório Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2024), o Brasil está em último lugar, dentre os países pesquisados, em relação às habilidades dos adultos de identificar a veracidade das notícias online. Estudo do Instituto de Pesquisa Datasenado (2024) indica que 93% dos brasileiros utilizam redes sociais e aplicativos de mensagem; 67% dos entrevistados (pessoas acima de 16 anos) já foram expostos à desinformação e 50% dos participantes da pesquisa consideram ser difícil identificar se uma notícia é falsa. Na edição mais recente da série Pesquisa de Percepção pública da C&T (2024), o tema das fake news aparece pela primeira vez. Dos entrevistados, 50,8% apontaram ter encontro frequente com notícias que parecem falsas, 36,5% admitiram já ter compartilhado informações falsas e 61,8% afirmaram que nunca compartilhariam notícias falsas se não tivessem certeza de sua veracidade. Em relação à checagem de informação, os participantes relataram ser prática pouco frequente, apesar de estarem conscientes do problema da desinformação.
A erosão da confiança nas instituições democráticas, a deslegitimação da ciência e da imprensa, que vem gerando o aumento de discursos e movimentos negacionistas e conspiratórios, a normalização do discurso de ódio, a criação de realidades paralelas e epistemologias alternativas (pós-verdade, teorias da conspiração, relativismo histórico), a radicalização de bolhas ideológicas (polarização, fabricação de um inimigo, etc), a mobilização política por meio do afeto e do medo (e.g. “Deus, Pátria e Família”; “Deus acima de tudo, Brasil acima de todos”) e os ataques coordenados à democracia digital (uso de bots, perfis falsos, fazendas de conteúdo, etc.) são alguns dos preocupantes desdobramentos e consequências da produção e disseminação de desinformação em contexto de PDPA e de ascensão da extrema direita.
Tendo isso em mente e compreendendo que os museus e seus profissionais não estão apartados dessa realidade, uma vez que tenho vivenciado e observado a materialização desses efeitos nesses equipamentos culturais, tanto em situações geograficamente localizadas quanto em suas redes sociais digitais, venho me questionando: Como os museus estão inseridos nesse cenário? Como estão lidando com essas questões? Seus profissionais estão preparados para lidar com essas questões em seus cotidianos laborais e com seus públicos diversos?
Acredito que essas e outras inquietações também tenham se apresentado à pesquisadora Ana Cecília Rocha Veiga, da Universidade Federal de Minas Gerais, uma vez que em 2018 a mesma se dedicou à pesquisa que analisou as fake news sobre museus no período das eleições, gerando o relatório ‘Museus e fake news: eleições 2018’. Já naquela época a autora convocava as instituições museais a uma reação contra as fake news, tomando como pano de fundo o inevitável contexto sociotécnico contemporâneo, e apresentava algumas sugestões de ações para tal.
Após a pesquisa e o relatório publicado em 2018, algumas iniciativas como palestras, mesas redondas, formação de jovens, entrevistas com especialistas e uma exposição sobre desinformação foram realizadas por algumas instituições museais ao longo dos anos. Entretanto, apesar de serem uma resposta inicial positiva ao preocupante cenário em que nos encontramos, a mesma ainda não alcança os objetivos de compreender o museu e seu papel nesse contexto e nem de propor efetivamente ações continuadas, por parte dos museus, para lidar com a questão.
Digo isso em função das recorrentes manifestações de discursos de ódio e de desinformação que venho observando tanto nas redes sociais quanto em situações presenciais nos museus. Recentemente, dois eventos realizados pelo MAST foram alvo desses tipos de comentários, como ilustrados nas figuras a seguir (Figuras 1 e 2). Porém, o mesmo não foi o único que já recebeu esses tipos de comentários.
Figura 1: Comentários de seguidores do Instagram do MAST sobre evento relacionado aos 60 anos do Golpe de 1964

Fonte: Acervo autora (2025)
Figura 2: Comentários de seguidores do Instagram do MAST MAST sobre evento LGBTTIA+

Fonte: Acervo da autora (2025)
Ao me deparar com essas expressões de nossos seguidores, surgem as perguntas: Como nos posicionamos diante dessas narrativas? O que elas nos revelam? Em uma primeira análise, os comentários publicados nas redes sociais do MAST materializam as ressonâncias da desinformação em rede no contexto dos museus. Elas nos informam que discurso de ódio e desinformação ‘andam de mãos dadas’ e que temos seguidores que replicam e, possivelmente, acreditam nesses discursos. O que fazer?
Como instituições que “funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos” (ICOM, 2022, s.p), considero imperativo que as mesmas discutam soluções e desenvolvam iniciativas para conter o avanço da desinformação e remediar seus efeitos deletérios dentro e fora dos espaços museais. Para tal, entendo que os museus deveriam incluir em seus planos de gestão institucional (museológicos e educativos), diretrizes e ações que contemplem o fenômeno da desinformação em rede com estratégias bem delimitadas que tratem: (a) do estabelecimento de normas de conduta diante de discursos de ódio proferidos em suas redes e em seus espaços geograficamente localizados; (b) da formação de seus profissionais e de seus públicos e da elaboração de ações educativas museais sobre essas temáticas, assim como da formação sobre as características comunicacionais e educativas do contexto sociotécnico contemporâneo, e as potencialidades e especificidades das tecnologias digitais em rede; (c) de pesquisas sobre desinformação no contexto dos museus, que também são necessárias. Precisamos, por exemplo, conhecer melhor nossos públicos e as experiências de educadores museais e dos demais profissionais de museus em relação ao tema.
As primeiras experiências da COEDU/MAST no que tange à temática podem ser acessadas aqui.
Não tenho a ilusão de que seja uma tarefa fácil, de que haja respostas simples e muito menos de que essas sugestões possam ser implementadas imediatamente. Certamente essas não são as únicas sugestões possíveis; podem existir outras mais. Tenho consciência sobre a complexidade da temática e sobre os diversos desafios enfrentados pelos museus e seus profissionais. Porém, desejo aqui reforçar a convocação de Veiga (2018b) e reiterar a sua preocupação, enfatizando agora a realidade da PDPA e da ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo. O fenômeno da desinformação em rede, ao que parece, veio para ficar. Precisamos falar sobre isso e agir o quanto antes!
Referências
BUCHER, Taina. If...Then: Algorithmic Power and Politics. Oxford: Oxford University Press, 2018.
CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE. Percepção pública da C&T no Brasil - 2023. Resumo Executivo. Brasília, DF: CGEE, 2024. 30 p.
GILLESPIE, Tarleton. Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. New Haven: Yale University Press, 2018.
ICOM Brasil. Nova definição de museu. Disponível em: https://www.icom.org.br/nova-definicao-de-museu-2/.
SENADO FEDERAL. Instituto de Pesquisa DataSenado. Pesquisa DataSenado revela o que pensa o brasileiro sobre Fake News (21ª edição da Pesquisa Panorama Político). Brasília: Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado, 2024. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=pesquisa-datasenado-revela-o-que-pensa-o-brasileiro-sobre-fake-news.
LEMOS, André. Dataficação da vida. Civitas: revista de Ciências Sociais, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 193–202, 2021. DOI: 10.15448/1984-7289.2021.2.39638. Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/civitas/article/view/39638.
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. The OECD Truth Quest Survey: Methodology and findings. OECD Digital Economy Papers, n. 369. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: https://doi.org/10.1787/92a94c0f-en
PARISER, Eli. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 2011.
RECUERO, Raquel. A rede da desinformação: sistemas, estruturas e dinâmicas nas plataformas de mídias sociais. Porto Alegre: Sulina, 2024.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; SOUZA, Joyce; CASSINO, João Francisco (orgs.). Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.
VEIGA, Ana Cecília Rocha. Museus e Fake News: Eleições 2018. Disponível em: <https://tinyurl.com/5xcy394k>.
VEIGA, Ana Cecília Rocha. Os museus, as fake news e o silêncio. Boletim UFMG, n. 2044, ano 45, 2018b, p. 2. Disponível em: <https://tinyurl.com/a4ncuf2a>.
WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. Information Disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Strasbourg: Council of Europe, 2017.
ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: the Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.
Sobre a autoria:
 Frieda Maria Marti é doutora em Educação pelo PROPED/UERJ, mestre em Zoologia (Ornitologia) pelo Museu Nacional/UFRJ e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É educadora museal e pesquisadora do Programa de Capacitação Institucional do CNPq (PCI) junto à Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins (COEDU/MAST). Realiza pesquisas em Educação Museal na/com a Cibercultura.
Frieda Maria Marti é doutora em Educação pelo PROPED/UERJ, mestre em Zoologia (Ornitologia) pelo Museu Nacional/UFRJ e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É educadora museal e pesquisadora do Programa de Capacitação Institucional do CNPq (PCI) junto à Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins (COEDU/MAST). Realiza pesquisas em Educação Museal na/com a Cibercultura.
Como citar este artigo:
MARTI, Frieda Maria. Museus e Desinformação: por que devemos falar sobre isso? Notícias, Revista Docência e Cibercultura, agosto de 2025, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Frieda Maria Marti, Felipe Carvalho, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel