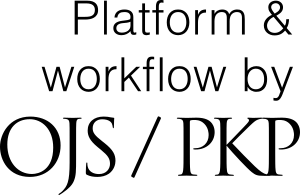Para sermos antirracistas, não precisamos mudar de cor. Sejamos nós mesmos!
 Por Edméa Santos
Por Edméa SantosProfessora titular-livre da UFRRJ.
Estou acompanhando e praticando, com meu grupo de pesquisa, um movimento antirracista nas práticas curriculares, no campo da Educação e, mais precisamente, em alguns programas de pós-graduação pelo Brasil. No meu caso, esse movimento vem acontecendo progressivamente, desde o início da carreira acadêmica, lá pelos idos dos anos 90 do século passado. Mesmo assim, e sobretudo, esse não é um movimento fácil para a minha geração. Além de sermos formados por uma academia colonizadora, muitos de nós não contamos com uma história de “letramento racial” dentro do seio de nossas próprias famílias.
Historicamente, famílias interraciais ocultaram e apagaram as memórias de seus ancestrais de origem africana, seja por opção, estratégia de sobrevivência nas sociedades, seja pela falta de memória e efeitos dos diferentes epistemicídios que sofremos ao longo de nossa história como nação. São poucos os rastros e artefatos negros nos acervos domésticos, a exemplo de fotografias de família, objetos culturais, obras de artes. Uma família formada por indivíduos brancos e negros, ou brancos e indígenas, ou brancos e asiáticos, só cultuou em grande parte a cultura branca, ignorando por completo suas outras marcas e características físicas e ou culturais.
Inspirada na minha história pessoal de mulher parda, nordestina, que constrói uma carreira acadêmica em meio à xenofobia sudestina, esta professora-pesquisadora originária de uma família interracial vem ao longo dos anos travando algumas conquistas e lutas pessoais em contextos racistas. A academia brasileira é racista. Num esforço de resistência, inclusive de insurgência, venho me inspirando já há alguns anos na abordagem epistemológica da multirreferencialidade, cada vez mais interseccional, que é uma abordagem, para todos os fins práticos, que busca explodir, sem necessariamente excluir, as referências disciplinares instituídas pelo norte global. Ciências, saberes cotidianos, artes, filosofias, epistemologias do sul, entram na “roda e na gira” como uma ecologia de saberes dialogando em horizontalidade. São apenas algumas certezas para o enfrentamento das incertezas.
Entre os diferentes desafios, instituir práticas e ações antirracistas tem sido a tônica de muitos docentes e professores que nunca se preocuparam diretamente com esse ativismo. Muitos e muitas acreditavam que com uma “educação para todos” poderíamos resolver nossas mazelas cotidianas que, para muitos, não passava de “mimimi” das minorias. Mas a fila da história anda e com ela acontecimentos nos atravessavam. Sem intenção de reduzir a complexidade do fenômeno, alguns efeitos merecem ser destacados aqui, para este texto: a) o “Efeito Bolsonaro” – instituição do bolsonarismo” –, que é a instituição da falta de civilidade e urbanidade com discursos, práticas e políticas racistas, sem currículo oculto, direto e reto. Esse “efeito” tornou a nossa vida um verdadeiro inferno; e b) O “Efeito Djamila”, que é a popularização de saberes antirracistas (advindos de diferentes fontes: filosofias afro-americanas e decoloniais, terreiros, artes, movimentos negros), nos mais variados gêneros e suportes de difusão e divulgação cientifica. O que chamo de “Efeito Djamila” é exatamente a rede que se formou de forma horizontal, subvertendo formalidades acadêmicas, próprias das abordagens abissais e ou positivas de produção e partilha, inclusive de saberes antirracistas.
Esses dois efeitos, juntos e misturados, podem ser analisados em complexidade, chegam a diferentes pessoas comuns, docentes, pesquisadores, e nas mais plurais redes educativas, entre estas as universidades e os grupos de pesquisas, convocando todos a processos de pesquisa e formação decoloniais. Afinal, para instituir os “saberes do sul” é preciso mergulhar no próprio sul. Esse mergulho tem acontecido de diferentes formas: estudos de referenciais teóricos diversos (epistemologias indígenas, iorubás, estudos latino-americanos, quilombolas, associações e movimentos lgbtqiap+, entre outros).
Ser antirracista, em tempos bolsonaristas, tem sido o projeto de muitos acadêmicos e acadêmicas, nunca antes implicados diretamente com os estudos formais ou práticas ativistas. Afinal, quem nunca teve um “melhor amigo negro”, “um bisavô preto”, “uma empregada membro da família” e ou “uma mãe de leite”? Para decolonizar currículos, corpos e mentes, é preciso investir na ampliação de repertórios que levem temas complexos e diretamente relacionados, a exemplo das relações de classe, gênero, sexualidade e questões étnico-raciais. A esse objetivo, contamos com uma noção de grande circulação na atualidade, a interseccionalidade. Não é possível decolonizar sem combater de frente o racismo. Para alguns autores, o racismo é estrutural, forjou-se na base das relações de classe, nas instituições, na vida política e na vida cotidiana, quando seres humanos subjugam outros seres humanos, tirando deles e delas suas humanidades.
Os processos de escravização são fenômenos das gentes. Por isso, não basta argumentar que todos os seres humanos são “gente”, que “quem trabalha com Educação precisa entender que todos somos gente”. Esse discurso ingênuo não pode vir sem a compreensão dos processos de subjugamentos forjados historicamente. Seja pela disputa da terra, do conhecimento ou do capital. Desde que o mundo é mundo, gentes subjugam e retiram as humanidades de outras gentes, e isso se instituiu ao longo da vida social mais ampla. O “Efeito Bolsonaro” produziu e ainda vem produzindo atos antidemocráticos em todo tecido social lançando mão de estratégicas, discursos e práticas racistas.
O hegemônico tem cor de pele, classe social e sexualidade definida pelas genitálias. O hegemônico é “branco, macho e cristão”, e suas histórias de privilégios, legitimadas pelo racismo estrutural, ganham formas de atos. Atos de falas, políticas de formação, violências (físicas, simbólicas, psicológicas e patrimoniais); fanatismos e intolerância religiosa, instituição de padrões de beleza, entre outros. Esses são apenas alguns dispositivos racistas.
Por outro lado, quem não concorda com o “Efeito Bolsonaro”, tem assumido uma postura antirracista na academia e na vida pessoal. Seja se posicionado nas redes sociais, agregando em seus projetos de pesquisa e de ensino os estudos decoloniais, empretecendo seus quadros teóricos e metodológicos, pautando nos eventos científicos esses temas, visibilizando projetos e coletivos negros, buscando parcerias diretas com parceiros negros, aprendendo com e sobre negros. Desconfie de quem não deixa rastros dessas práticas. Muitos foram os colegas de nossas comunidades científicas que saíram do armário de seu fascismo. Há quem trabalhe e produza ciência “neutra e imparcial” para quem quer que seja, tanto faz se os projetos são para os governos de “Mandela ou de Hitler”.
Afetados pelas ressonâncias do “Efeito Djamila”, muitos mergulharam em práticas cotidianas e midiáticas antirracistas, lives, projetos literários e nas suas histórias familiares, aquelas muitas vezes apagadas e ou neutralizadas pelos efeitos históricos da branquitude, que, entre diferentes ferramentas e dispositivos, acionaram embranquecimentos epistemológicos, culturais e estéticos. São diversas as formas de embranquecimentos, seja por epistemicídios ou práticas de apagamento das culturas e religiões de matriz africana. Pessoalmente, compreendo que o “Efeito Djamila” tem bastante potencialidade não só na inspiração de práticas antirracistas, mas também na popularização da ciência principalmente do que toca aos temas da divulgação e da população científica do campo das relações interraciais. Narrativas afirmativas circulam em redes educativas plurais. Redes Sociais da internet, coleções literárias de qualidade e com baixo custo, visibilidade e protagonismo de pessoas negras autoras, premiadas e em ascensão social.
Por outro lado, esse mesmo movimento é também criticado por acadêmicos negros, uma vez que esses profissionais não incluem em seus trabalhos e ativismos pessoas que não estejam diretamente ligados ao universo acadêmico e a projetos de cunho mais coletivos. A disputa narrativa é tensa também na comunidade negra, que é plural, diversa e bastante polissêmica, como em qualquer outra comunidade. Quando cito os efeitos “Bolsonaro” e “Djamila”, não ignoro a história e luta dos movimentos negros e de acadêmicos no combate ao racismo. Apenas destaco que o “Efeito Bolsonaro” impulsiona os grupos democráticos à luta cotidiana mais racializada, uma vez que ele é sistematicamente racista sem acionamentos de currículos ocultos. Discursos, práticas, políticas, são explicitamente racistas. Já o “Efeito Djamila”, este é viral, aciona diferentes pessoas e coletivos com múltiplas linguagens e dispositivos que muitas vezes a academia mais formal não alcança, e essa ainda é uma dificuldade própria da academia, que ainda lança mão de linguagens mais formais e elitistas que chegam pouco ou quase não atingem as pessoas comuns, a exemplos da comunicação científica de par em par.
Segundo Suely Carneiro, importante referência acadêmica e do movimento negro, o povo negro é formado por pessoas pretas e pardas. Sendo assim, uma pessoa parda é uma pessoa negra. Quantas pessoas pardas realmente se percebem negras? Como uma pessoa que se declara parda é lida como negra pela sociedade? A heteroidentificação, como a pessoa é lida pela sociedade, de uma pessoa parda é feita pela leitura do seu fenótipo: pele negra mais clara, cabelos crespos e ou cacheados, traços negroides do rosto. Não basta a pessoa ser filho ou filha de pai ou mãe negros, para que sua heteroidentificação seja parda, logo negra. Esses processos de heteroidentificação têm sido pré-requisitos principalmente para acessar programas e políticas de ações afirmativas, uma vez que, historicamente, o povo negro foi alijado de políticas públicas e pelo Estado meritocrático.
Por outro lado, quanto mais pessoas pardas se identificarem como pardas, buscando formação e resgate de suas ancestralidades, saberes e conhecimentos, mais empoderada pode ficar a população negra como um todo. O fosso das desigualdades é enorme e temos muito a fazer, sobretudo no pós-Efeito Bolsonaro, uma vez que o governo do “mito” acabará e restará os rastejantes armados e mal-educados bolsonaristas. Sem contar que teremos de reconstruir as instituições e ativar as políticas de ações afirmativas. Como nos alerta Suely Carneiro:
É uma conversa que me incomoda bastante, essa história de colorismo. Eu acho, simplificando como "um tiro no pé" esse debate, porque eu pertenço a uma geração que teve de se esforçar muito para construir esse capital político extraordinário que a gente construiu constituindo a categoria negra como resultado da somatória entre pretos e pardos, foi um esforço que exigiu um trabalho tremendo de engenharia política, um esforço acadêmico extraordinário, envolvendo uma vasta produção sobre desigualdades sociais no Brasil, uma extensa produção desde a década de 1970 em diante, sobre a similitude de condições socioeconômicas compartilhadas por pretos e pardos, e o tamanho do fosso existente entre esses dois grupos e o grupo hegemônico é de grande distância. O gap está ali, sempre esteve ali, você tem uma maioria de pretos e pardos com características socioeconômicas similares, o que nos autorizou a propor as duas categorias como a construtivista do negro e lá em cima, a hegemonia branca.
Então, o que quando nós introduzimos esse debate do colorismo e que a gente entra nessa disputa de opor mais claros e mais escuros, eu acho que nós estamos retornando àquele ponto onde se estabeleceu a nossa crítica a esses modelos de partição da nossa identidade, não apenas nos mulatos, ou pardos. Já chegou a ter um momento em que o censo chegou a aferir outras subclassificações, como "moreno jambo", por exemplo, tudo isso foi um projeto e um de seus principais resultados foi o de fracionar identidade negra e impedir que essa unidade de pretos e pardos se assumisse enquanto um coletivo único reivindicante de uma outra forma de inserção na sociedade brasileira.
Então eu acho que é perigoso, eu sei que tem elementos novos nesse debate, mas eu ainda faço parte da geração que construiu isso e que viu tudo o que a fragmentação da nossa gente produziu contra nós e o que pode representar isso, se a gente levar às últimas consequências desta ideia que opõe pretos e pardos, vamos ter de travar uma luta de minorias que envolve em torno de 6% da população. Essa é uma das consequências políticas possíveis. Por outro lado, se nós insistirmos nessa razão, eu quero saber o que nós fazemos com aqueles corpos que estão no IML, que são em sua maioria pardos também, aqueles corpos de meninos negros assassinados. E, por fim, tem um outro componente que me incomoda no debate, que tende a ser um debate muito rigoroso no interior do coletivo das mulheres e eu suspeito que ele está sempre elevado por problemas de disputa no mercado afetivo e eu acho que é rebaixar a problemática social e toda magnitude que ela tem. (CARNEIRO, 2022).
Por outro lado, pessoas brancas, ou tidas como brancas, estão se autodeclarando pessoas pardas e ou “não brancas”, seja para se aproveitarem das políticas de ações afirmativas, a exemplo das cotas para acesso às universidades, e ou para se sentirem pertencentes ao novo movimento do “Efeito Djamila”. Seja pela paternidade e ou maternidade de filhos negros, pelo sentimento de pertença nas universidades públicas, hoje mais habitadas por pessoas negras, inclusive em ascensão (fruto de mérito e lutas históricas de acesso e acessibilidade) de colegas professores e ou pesquisadores negros. Não importam os motivos, quase sempre de cunho privado; o que interessa mesmo é ser antirracista.
Em nossa humildade opinião, é muito mais legítimo ser uma pessoa branca antirracista, que ser uma “fake parda” ou “afro bege” antirracista. Afinal, o racismo é um problema dos brancos. Brancos podem e devem ser aliados na luta contra o racismo. O papel da luta dos brancos como aliados é extremamente legítimo.
Não precisamos maquiar nossas origens, ancestralidades ou fenótipos. O mais importante é de fato formar e se formar para a neutralização de práticas de branquitude, que também são estruturais e requerem autovigilância, pois reverberam em atos de ignorância e ou em atos falhos. Nesse link, é possível acessar um teste de heteroidentificação, o instrumento poderá nos ajudar bastante no entendimento da questão, evitando maiores constrangimentos éticos, estéticos e políticos na vida em sociedade. Além de nos preparar para fazermos nossas próprias autodeclarações e também heteroidentificações, uma vez que muitos de nós trabalhamos em instituições públicas na criação e operacionalização de políticas de ações afirmativas.
Por outro lado, há também a má-fé, o oportunismo e a falta de bom senso de pessoas brancas que se autodeclaram “pardas”, simplesmente para acessar o público negro e suas conquistas de reparação. Recentemente, o Brasil e o mundo acompanharam a autodeclaração do candidato a governador do estado da Bahia, ACM Neto, ex-prefeito da cidade do Salvador. Vale muito a pena trazermos para cá esse caso, como registro e apresentar os protestos e críticas que circularam em redes, desmascarando o falseador, que perdeu as últimas eleições também por conta de sua atitude antiética ao se declarar “pardo”, sendo tido socialmente como uma pessoa branca. A sociedade baiana se manifestou de forma bastante eloquente. As ressonâncias também circulam em rede em diferentes linguagens, acionando ambiências formativas eloquentes. Diferentes perfis nas redes sociais e aqui destaco uma postagem no Instagram:
Vídeo sobre auto e heteroidentificação do então candidato ACM Neto
E os baianos aproveitam e fazem arte ...
O que dizer diante disso tudo isso, em pleno novembro, mês da consciência negra?
- Ampliemos nossos repertórios, para mais letramentos raciais críticos;
- Produzamos e partilhemos em rede artefatos curriculares antirracistas;
- Criemos dispositivos curriculares diversos;
- Estudemos as leis de inclusão e incluamos o estudo de história da África nas escolas e nos cursos de formação de professores;
- Ampliemos o debate antirracista em todos os lugares e redes educativas em que atuamos;
- Denunciemos casos de racismo e eduquemos os racistas;
- Minimizemos e destruamos o “Efeito Bolsonaro”;
- Ampliemos o “Efeito Djamila”, mas também invistamos em mais processos de pesquisa e formação acadêmicos decoloniais.
- Sejamos aliedes, do jeito que somos...
Aproveito e partilho, segundo o professor dr. Sidnei Nogueira, nove erros dos antirracistas. Vejam o corossel publicado pelo autor em seu perfil do Instagram @professor.sidnei . Que tal irmos aos comentários e continuarmos esta conversa?
Referências
PROFISSÃO REPORTER. Programa Lei de Cotas. Rede Globo, 2022.
Como citar este artigo:
SANTOS, Edméa. Para sermos antirracistas, não precisamos mudar de cor. Sejamos nós mesmos! Notícias, Revista Docência e Cibercultura, setembro de 2022, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editore(s)/a(s) Seção Notícias: Felipe Carvalho