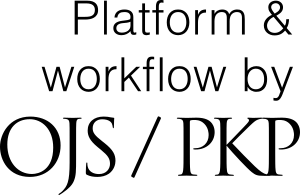Medo de um planeta cis
 Por Sofia Favero
Por Sofia FaveroPsicóloga e doutoranda em Psicologia Social e Institucional (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Integrante do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero (NUPSEX) e do Movimento Sergipano de Transexuais e Travestis (AMOSERTRANS).
A expressão “cisgênero” tem avançado cada vez mais em nossos debates, espaços de comunicação, programas e reportagens televisivas. Fruto da década de 1990, o termo “cis” chegou ao Brasil por intermédio de algumas intelectuais. Aline Freitas, Leila Dumaresq, Jaqueline Gomes de Jesus e Hailey Kass deram início a um projeto que foi acompanhado por Viviane Vergueiro e Bia Bagagli, amplamente responsáveis por complexificar o entendimento introdutório atribuído à palavra cisgeneridade.
Naquele momento, “cis” era uma expressão em latim para designar o “lado de cá” – ao passo que “trans” era uma expressão para designar o “lado de lá”. Quando não era apresentada dessa forma, o termo “cisgênero” fazia referência à isomeria geométrica, em que algum composto com a mesma fórmula molecular estivesse do mesmo lado do plano espacial ou de lados opostos. De maneira geral, “cis” anunciava sua entrada na gramática acadêmica e ativista a partir de um estatuto divisório: é uma palavra que demarca pelo menos duas posições antagonistas. Um de seus grandes êxitos certamente foi o de desnaturalizar as desigualdades que atingiam pessoas trans, antes referidas como versões falsas, artificiais, daquelas que eram anunciadas como biológicas, normais, verdadeiras.
Agora entendidas como pessoas cis, ou cisgêneros, esse grupo de pessoas passava a ser apresentado à noção de alteridade. Jota Mombaça foi uma das autoras que, nesse interim, passou a tecer contribuições sobre como as discussões em torno da cisgeneridade no Brasil haviam surgido a partir do âmbito acadêmico, abrindo pouco espaço para os ativismos e coletivos trans contribuírem com seus olhares. Ainda assim, pouco a pouco, a cisgeneridade ia se desenvolvendo conforme uma identidade cada vez mais inteligível entre nós. Esse foi e permanece sendo um dos grandes giros epistêmicos protagonizados pelo transfeminismo, com a capacidade de adicionar à gramática social outro ponto de vista sobre a transexualidade. Menos estigmatizado, excludente.
Tal disputa buscava, ao mesmo tempo, dar ao conceito “cis” um status de ciência. A produção intelectual trans concorria com as tecnologias acadêmicas na diligência de enfraquecer as teorias psicopatológicas sobre o gênero. Não há pretensão de dizer que os conceitos transfeministas estão fora das teorias científicas, mas de não nos seduzirmos apenas por essa estratégia, convocando, assim, esferas como a ética e os direitos humanos para integrar esse debate. É com a finalidade de construir junto a outros olhares que gostaria de propor uma camada a mais para a cisgeneridade: a noção de cosmologia. Comumente utilizada na antropologia e nos estudos culturais, cosmologia refere-se a como determinados grupos leem a realidade.
Caso a gente retome a história da construção do termo heteronormatividade, perceberemos que diferentes intelectuais flertaram com essa concepção sistemática. Desde 1993, com Michael Warner lançando o livro Fear of a Queer Planet, momento compreendido com o de origem da expressão, que passamos a observar críticas aos estudos culturais que desprestigiavam a sexualidade como chave de leitura social. Warner argumentava que heteronormatividade dizia respeito à crença de que a vinculação entre homens e mulheres era a forma elementar de associação humana.
Anos mais tarde, em parceria com Lauren Berlant, lançaram o artigo Sex in Public (1998), onde situavam a heteronormatividade como uma instância capaz de definir o que é e o que não é sexual. Segundo apontavam, esse termo não fazia referência apenas aos heterossexuais, mas, sobretudo, a um horizonte e ideal regulador para a vivência heterossexual. É nesse sentido que Warner e Berlant compreendem que a heterossexualidade depende da criação e manutenção de espaços de intimidade para adquirir reconhecimento (espaço doméstico, parentesco, propriedade, formação de casal, dentre muitos outros).
Esses mesmos espaços passavam a ser responsáveis por escondê-la, por dar à heterossexualidade o caráter de “vida normal”, tanto que, para os autores, caso tirássemos o “mundo heterossexual” do nosso esboço, não sobraria quase nada. Percebe-se como a heterossexualidade, muito além de uma sexualidade, começa a ganhar corpo nos estudos gays e lésbicos conforme uma instituição. É em Sex in Public que vão delimitar a heteronormatividade, portanto, como uma estrutura de compreensão que faz a heterossexualidade parecer não apenas coerente, mas também privilegiada, enquanto a homossexualidade era relegada ao privado. Caso gays tentassem romper esse pacto, ouviriam coisas como: tudo bem ser gay, só não precisa...
Aproximando a discussão de outra importante teórica no campo dos estudos de gênero, Teresa de Lauretis, seremos capazes de notar que o campo das disputas sexuais é tautológico. As tecnologias que compõem o gênero, sendo o cinema uma delas, buscam fortalecer uma distinção entre natureza e cultura. Em outras palavras, o gênero e a sexualidade seriam unidades ilusórias, responsáveis por nos organizar, marcar e separar conforme uma narrativa de segurança biológica. Quem nasce homem, deve permanecer homem. Quem nasce mulher, deve permanecer mulher. Entretanto, pessoas trans não se solidarizam com esse tratado civilizatório, e demandam não só outras formas de existência, mas também outras ontologias.
O nascimento não é um evento ileso de cultura. “Nascer” homem ou mulher é um produto tão sujo de mundo quanto a fabricação de crucifixos por mãos humanas, como anunciava Bruno Latour. Não seria arriscado pressupor que um dos objetivos de Warner e Berlant era o de desmembrar determinados dualismos produzidos pela heteronormatividade. Ou seja, o que é saúde, o que é doença, o que é uma vida certa ou uma vida errada, o que é ou não assunto para criança, por exemplo. Mas e a respeito dos dualismos produzidos pela cisnormatividade? Há alguma diferença quando paramos de ver o cisgênero pela lente do “sujeito” e passamos a entender os processos de subjetivação que dão sentido a essa realidade?
Para responder essas perguntas, o conceito de heteronormatividade nos dá algumas pistas estimulantes. É com Gayle Rubin e o seu sistema sexo-gênero que passamos a notar como a divisão sexual do trabalho impõe um estado de dependência entre os sexos, encarregado por fazer que mulheres não tenham poderes plenos sobre si. Já com Adrienne Rich, a heterossexualidade compulsória fala sobre a necessidade epistêmica de desnaturalizarmos o cuidado, a doação e o afeto como “atribuições” femininas. Todavia, somente com a filósofa Judith Butler é que conseguimos amarrar de uma vez o que a heteronormatividade vem a ser: uma matriz de inteligibilidade. A conjunção entre sexo, gênero e sexualidade, incumbida de nos orientar enquanto sociedade na direção de uma “boa” sexualidade, a heterossexual.
Caso a gente reconheça que o modo como apresentamos a cisgeneridade permanece bastante próximo a uma definição de self, algo que alguém é, poderíamos supor que perspectivas intensamente importantes, como as forças institucionais, têm sido deixadas de lado? Dito de um modo simples, não estaríamos reduzindo a cisgeneridade ao efeito subjetivo que ela tem em nós, sobre sermos ou não homens e mulheres inteligíveis, abrindo pouco espaço para as tecnologias cisgêneras que tornaram autoevidente a relação entre genital e identidade? Talvez seja mais produtivo apostar em modos de nos desidentificar com esse mundo, conforme apostava Preciado ao defender uma multidão de diferenças, do que empreender tantos esforços nas identidades fixas, estáveis, supostamente lineares.
O subsídio teórico que a heteronormatividade nos trouxe foi o de justamente compreendermos uma nova realidade, em que não mais enxergávamos um poder soberano, total, de cima para baixo, mas começávamos a ver como as relações de poder estavam mais ramificadas e distribuídas entre nós. Embora o conceito pudesse ser usado nesse sentido rígido, em que heteronormatividade é algo que alguém “faz” e não o modo como foi ensinada a pensar, intui-se aqui que resgatemos a dimensão do pensamento a nossas análises, embora não haja, de fato, um modo absoluto de falar sobre a cisgeneridade. Gosto da maneira que Linn da Quebrada a define: é um veículo que organiza nossa imaginação.
Aprendemos com diferentes entidades, desde Família, Escola e Trabalho, a desejar um mundo cisgênero, pois este operava um sentido análogo ao de um mundo seguro. No terreno instável das identidades, a segurança é um artefato que busca pacificar algo que de pacífico tem muito pouco: os conflitos que toda forma de identificação produz. Essa cara ambivalência aos estudos de gênero não pode ser perdida de vista. Falar sobre cisgeneridade ou cisnormatividade, por fim, é falar sobre como nossas identidades não se completam. A gramática transfeminista nos convida não só a uma revisão de palavras, mas a adotarmos uma cosmologia outra. Essa que, ao invés de estabilizar, investe em uma pergunta ativa sobre as práticas que nos tornam cis ou trans. Quem sabe, dai em diante, abraçando a ambivalência, a cisgeneridade não seja só uma forma de se ver como parte de um grupo, mas uma maneira sofisticada de falar sobre uma crise. Imaginar outros mundos. Pôr em prática nossas ousadias.
Referências
BAGAGLI, Beatriz. “A diferença trans no gênero para além da patologização”. Revista Periodicus, Salvador, n. 5, p. 87-100, 2016. Acesso em 24/01/2022.
BERLANT, Lauren; WARNER, Michael. Sex in public. Critical inquiry, [s.l.], v. 24, n. 2, p. 547-566, 1998. Acesso em 24/01/2022.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012.
DUMARESQ, Leila. “O cisgênero existe”. Transliteração, 15 de dezembro de 2014. Disponível em Disponível em Acesso em 24/01/2022.
JESUS, Jaqueline; ALVES, Hailey. Feminismo transgênero e movimentos de mulheres transexuais. Revista Cronos, v. 11, n. 2, 28 nov. 2012. Acesso em 24/01/2022.
LATOUR, Bruno. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches Bauru, SP: EDUSC, 2002.
RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica & outros ensaios Rio de Janeiro: A Bolha, 2019.
RUBIN, Gayle. "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economia política' del sexo". Nueva Antropología, México, v. VIII, n. 30, p. 95-145, 1986. Acesso em 24/01/2022.
VERGUEIRO, Viviane. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade 2015. Dissertação (Mestrado em Poscultura) - Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Poscultura), Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
WARNER, Michael (Org.). Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory Minneapollis: University of Minesota Press, 1993.
___________________
Como citar este artigo:
FAVERO, Sofia. Medo de um planeta cis. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, janeiro de 2022, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias: Sara Wagner York; Felipe Carvalho, Mariano Pimentel e Edméa Santos