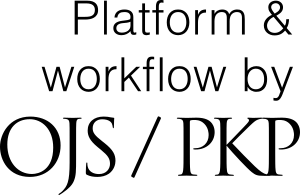Por que tudo é branco? A importância do protagonismo negro na literatura infanto-juvenil
 Por Alexandra Lima da Silva
Por Alexandra Lima da Silva É doutora em Educação (ProPed-UERJ, 2012), Bacharel e Licenciada em História pela UFF (2005), instituição na qual também concluiu mestrado em História Social (2008). Foi professora efetiva no Departamento de História da UFMT (2013-2015), PPGHIS/UFMT (2014-2016) e ProfHist/UFMT (2015-2018). Realizou estágio pós-doutoral na University of Illinois, com bolsa CAPES (Professor Visitante) no período de janeiro a dezembro de 2019. Desde 2015 é professora na Faculdade de Educação da UERJ e professora permanente no Proped/UERJ.


Eu nasci na Baixada Fluminense em outubro de 1980. Das minhas irmãs, sou a mais nova e a que tem a pele mais clara. Nasci numa família em que pessoas brancas eram minoria. A medida em que eu crescia, mudanças aconteciam no meu corpo, e na maneira como as pessoas me viam. Meu cabelo mudou. Foi encrespando. Eu passei a ouvir comentários como “mas o cabelo dessa menina era tão bom, como foi ficar ruim desse jeito”. Lembro que eu corria quando inventavam de pentear meu cabelo seco. Logo eu aprendi a não deixar que ninguém encostasse no meu cabelo. Porque sempre que isso acontecia, eu sofria, ou algo ruim acontecia, como fazer o corte de Chitãozinho e Xororó.
Eu tinha uma coleguinha de infância que usava henê e pente quente desde muito pequena. Ela pele clara e olhos verdes, e por isso, recebia mais atenção que as demais crianças negras. Certa vez, o irmão mais novo dessa coleguinha disse: “eu já notei que nos tratam mal porque somos escurinhos”. Ele tinha 5 anos. E aquilo me marcou. É com essa idade que muitas crianças negras verbalizam o que é racismo.
Assim como Mohammed Ali no vídeo, eu também me perguntava: por que tudo é branco?
Por que Jesus é branco de olhos azuis?
Por que a última ceia só tem homens brancos?
Os anjos são brancos.
Onde estão os anjos negros? E as bonecas negras?
Quando eu era criança eu queria a boneca da Wanda, a única boneca de plástico que eu vi na minha infância que não era branca.
Minha geração foi a geração das apresentadoras loiras. Eu comecei a assistir a Xuxa ainda na extinta Manchete, e depois, a segui no Xou da Xuxa.
Eu gostava muito do meu cabelo: longo e com muito volume. Como eu ainda não estava na escola, lembro-me de todas as manhãs sentar em frente a TV para assistir ao recém-nascido Xou da Xuxa, na Rede Globo.
Eu adorava me olhar no espelho, e vivia penteando meus longos cabelos com muito volume, várias vezes ao dia, inclusive. Eu queria ter o mesmo penteado da Xuxa, especialmente no primeiro LP dela: um rabo de cavalo cacheado e com volume – provavelmente de permanente – com franja. O rabo de cavalo com cachos e volume eu tinha, só me faltava a franja! Adulto nenhum queria cortar meu cabelo com franja. Minha mãe se recusava. Dizia que meu cabelo não pegava franja e que eu iria estragar o cabelo com aquilo.
Pois bem, criança teimosa que era, me tranquei no quarto com uma tesoura e sim: cortei o cabelo! Um horror! Todos disseram que era o famoso “caminho de rato”.
Não sobrou muita coisa para a franja…
Enfim, foi a primeira vez que conheci o “Joãozinho”… O primeiro de uma série, afinal…
Mas minha relação com o Xou da Xuxa não termina ai.
Entrei para escola nos idos de 1987. Fui alfabetizada com aquela música, o Abecedário da Xuxa. Lembro da letra até hoje:
“A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola…”.
Sim, se deixar eu sou capaz de cantar toda.
E sim, eu cantava na escola, sempre a primeira da fila, e ai de quem tentasse me tirar o protagonismo. Eu não ligava muito se tinha gente rindo. E sempre tinha gente rindo, pois eu não era branca, nem loira…
A propósito, não havia muitas meninas loiras de olhos azuis na escolinha pública de apenas duas salas onde me alfabetizei, na zona rural de Itaboraí, num lugar chamado Perobas.
Mas as meninas brancas se achavam as eleitas naturais para “fazer a Xuxa”. Mesmo assim, eu não hesitava em fazer a Xuxa no recreio. Certa vez um menino tentou não parava de implicar comigo. Mas ele não foi muito feliz na tentativa. Dei um chute na canela dele com meu sapatinho de bico fino e corri feito o Usain Bolt. Ele nunca mais tentou me humilhar novamente. E eu segui fazendo minhas danças no recreio, sem me importar muito com a audiência.
E a relação da professora branca com a Xuxa também não terminou no abecedário. Criativa que só, ela ousou criar uma apresentação musical com a música Arco-íris na festinha de fim de ano. E lá foram as meninas, todas vestidas de saia de papel crepom para fazer a dancinha.
Nós, crianças pobres e vivendo numa zona rural, não tínhamos dinheiro para comprar a famosa bota e o chapéu das Paquitas. Mas ainda assim, nos apresentavam a beleza como sendo aquilo que vinha da “loirice” da Xuxa, utilizada como recurso pedagógico para educar crianças negras e pobres, numa zona rural.
Eu era muito curiosa e desinibida, gostava de tudo o que era oferecido pela escola e pelas professoras, todas brancas. Minha irmã, dois anos mais velha, sentia muita vergonha, e achava uma humilhação fazer a dancinha com papel crepom. Eu não. Realmente adorava “fazer a Xuxa” lá na frente. Nunca quis ser Paquita. Eu queria ser a própria Xuxa. E em todas as festinhas infantis, eu corria e dançava lá, do meu jeito, “me sentindo”.
Mas à medida que fui crescendo, passei a entender que não me bastava a coragem e a cara de pau para dançar, sem vergonha e sem pudor. Eu não era branca. E nunca seria. Meu cabelo não era loiro e nunca seria. E o mais importante: eu gostava do meu cabelo escuro, crespo, longo e com volume. Não queria alisar.
Mas de repente, eu também não conseguia mais dançar.
Eu aprendi que não nasci com o privilégio da branquitude. Logo, as pessoas esperavam que eu fizesse a “mulata Globeleza”. Passei a entender, à medida que fui reconhecendo o racismo cotidiano, que meninas como eu deveriam se apoderar das próprias narrativas e deveriam se recusar a aceitar passivamente um lugar previamente reservado. Encontrei nos livros meu caminho para casa…
Eu gostava muito de livros. Foram o meu refúgio. Mas também o protagonismo na maioria dos livros que eu li era de pessoas brancas. Isso passou a me incomodar bastante quando eu cheguei ao Ensino Médio, e foi lá que eu tive meu primeiro contato a Clara dos Anjos, de Lima Barreto, com as personagens de Machado de Assis e com Quarto de Despejo, Carolina de Jesus.
Eu tinha uns 16 anos quando eu li Carolina pela primeira vez. Quarto de Despejo foi um dos livros que eu devorei naquele ano de 1997. Eu gostava de ler sobre temas sensíveis. Eu gostava de tentar entender por que o mundo era tão injusto, desigual e cruel.
E Carolina sobrevivia das sobras.
Catava papelão.
E escrevia.
Eu também escrevia.
Naquele tempo, eu tinha uma agenda velha que eu fazia de diário. Então, de certa maneira, eu conseguia entender um pouco a importância da escrita na vida daquela mulher negra, completamente negligenciada pelo Estado. Mas eu não conseguia entender por que algumas vidas não importavam.
Por que algumas pessoas não tinham direito à comida?
Por que algumas pessoas não tinham direito a uma casa de alvenaria?
Por que algumas pessoas eram invisíveis?
Aos 21 anos iniciei o curso de graduação em história na UFF. Eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Nas primeiras semanas na universidade, eu me sentia deslocada, excluída, invisível, a que chegou por último (mesmo sendo a primeira da minha família a chegar ali!), sentia que eu não estava no mesmo nível que a maioria dos meus colegas. Eu também contava nos dedos as pessoas negras ocupando aquelas cadeiras: 4, de um total de 50 estudantes. E nenhum professor ou professora negra. Isso era muito impactante, mas ninguém falava sobre isso. Silêncio. Negação. Num país de maioria negra, não havia questionamento em relação a ausência de professoras e professores negros num curso de humanas. Também não se discutia a minoria negra na universidade...Isso me incomodava. Sentia que eu iria me afogar na minha revolta. Eu precisava falar sobre isso. E foi o que eu fiz. Havia um professor mais próximo dos estudantes. E eu expus toda a minha indignação de como eu sentia que aquele cenário era bastante desfavorável a pessoas como eu: mulher, negra, pobre e periférica. Eu esperava que ele se indignasse junto comigo. Mas não foi o que ele fez. Em tom de superioridade, me disse: “pois considere-se uma vitoriosa por conseguir chegar até aqui”. Ele parecia naturalizar as desigualdades e reforçar o discurso da meritocracia. Veja, “você conseguiu”. “Tudo é uma questão de esforço pessoal, não é mesmo?”. Não, não foi um elogio. A conversa com o professor me deixou ainda mais revoltada pela total naturalização da desigualdade existente no país. Decepção. Neste ponto eu concordo com Conceição Evaristo quando ela diz: “Não colem em mim esse discurso da meritocracia”[1]. Racismo estrutural, desigualdade social e machismo são os grandes problemas do Brasil. Políticas públicas fazem a diferença. Eu também acredito nisso.
A solidão era minha grande companhia nos primeiros anos na universidade. A incompreensão também. Eu simplesmente fui me calando diante das violências cotidianas. Eu tentava sobreviver ali. Mas sobreviver sem existir é algo muito cruel e difícil de suportar. Mais uma vez, os livros foram meu refúgio. Eu também trabalhava duro, e me esforçava para nunca chegar atrasada. Eu também tentava ser eficiente e pontual na entrega dos trabalhos. Mas isso nunca parecia ser o suficiente. Eu me sentia sempre em desvantagem. Eu apenas lia autoria majoritariamente masculina, branca e eurocentrada. Eu seguia incomodada. Naquele tempo, eu não me lembro de ter lido textos de historiadoras negras. Apenas recentemente fui apresentada a obra de Beatriz Nascimento. Eu gostaria de ter sido apresentada a ela há muito mais tempo.
Hoje eu sei que “nossos passos vem de longe” e que não estamos sozinhas nessa.
Com bell hooks eu aprendi que:
“Ensinar fora do contexto de sala de aula é uma forma de assegurar que a educação democrática seja acessível a todas as pessoas (...). Há várias maneiras de construir um espaço de aprendizagem fora da sala de aula. Uma das direções que meu trabalho tomou – e que tem me proporcionado um público diferente- é a escrita de livros infantis. Comecei a escrevê-los como uma resposta a pais e mães, sobretudo mães negras, que me disseram que, uma vez que meus livros de teoria ajudaram jovens adultos a descolonizar a mente, eu poderia escrever livros para crianças que também desafiassem o racismo e o machismo”(hooks, 2020, p. 215).Hoje eu tenho 40 anos e eu decidi que eu devo escrever para quem também não está na universidade. Eu devo continuar conversando com quem está na educação básica, e principalmente, devo lutar para que jovens e crianças se sintam representadas/os nas histórias que leem, nas práticas cotidianas nas escolas. Escrever livros para o público infanto-juvenil é uma maneira de promover reparação comigo mesma, com o que eu não tive. Sim, em muita medida, eu também escrevo para a menina que eu fui.
Deixo aqui o convite à leitura dos meus livros As rosas que o vento leva, publicado pela editora Kitabu e Flores de ébano, pela editora MAzza, ambos no prelo e com previsão de lançamento em novembro 2020.
A autoestima da criança, da jovem e do adolescente negros importa. É essa hoje minha maior preocupação. Contar histórias que inspirem. Me preocupo em divulgar as narrativas e o protagonismo de pessoas negras que, mesmo em condições terríveis, como foi o caso da escravidão, se levantaram, resistiram, se tornaram autoras das próprias histórias.
[1] “Não colem em mim esse discurso da meritocracia”, diz Conceição Evaristo.
Referências
hooks, bell. Ensinando pensamento crítico. Sabedoria prática. São Paulo: editora Elefante, 2020.
Muhammad Ali fala sobre representatividade negra em 1971
__________________________________
Como citar este artigo:
SILVA, Alexandra Lima da. Por que tudo é branco? A importância do protagonismo negro na literatura infanto-juvenil. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, dezembro de 2020, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: <>. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias: Felipe Carvalho, Mariano Pimentel e Edméa Oliveira dos Santos