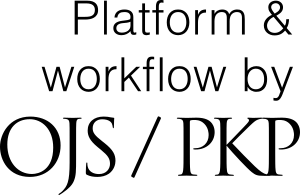Da Escola à Formação Acadêmica Global
Autoria: Sara Wagner York
Quando eu era criança, as pessoas ao meu redor sempre falavam sobre profissões, o que queriam fazer, como queriam fazer, mas, via de regra, quando alguém perguntava sobre isso, as pessoas respondiam: “graças a Deus, já terminei”.
“Já terminei” nunca foi uma resposta satisfatória para mim, porque eu nunca entendi de fato o que era esse “já terminar”. Teria a ver com o horário da escola? Com concluir o primeiro grau? O segundo grau? Aliás, hoje os nomes corretos são Ensino Fundamental e Ensino Médio, que compõe a Educação Básica. Ou era sobre a faculdade? E hoje eu fico pensando: será que a educação termina em algum lugar?
A minha experiência ao longo da vida tem mostrado que educação, mais do que ser informativa, formativa ou performativa, é um ato de interação e integração com tudo que nos cerca, por toda a vida. A gente nunca termina. Mas podemos encontrar pontos nevrálgicos ao longo dessa caminhada. Por isso escrevo esse texto da minha posição atual de quase-doutora — o que nos Estados Unidos se chama PhD candidate — para aqueles que, como eu, sonharam em algum momento em “terminar” alguma coisa. Esse algo que, paradoxalmente, nunca termina. A educação é contínua.
A seguir, proponho pensar essa continuidade a partir da minha experiência com o doutorado sanduíche, uma modalidade de pesquisa no exterior que transforma o modo como compreendemos o saber, o corpo, o mundo e a própria ideia de término.
🏫 O início da escolha dos caminhos 1. Ensino MédioO que é: Última etapa da educação básica. Dura, em média, três anos, com foco na formação geral do estudante.
Para que serve: Prepara o aluno para o vestibular/ENEM e para a vida cidadã. Tem como objetivo preparar os estudantes tanto para o ingresso no ensino superior quanto para a vida cidadã e o mundo do trabalho.
2. Ensino Médio TécnicoO que é: Uma modalidade que integra o ensino médio regular com uma formação técnica profissionalizante. Pode ocorrer de forma:
Integrada: quando o aluno cursa ensino médio e técnico ao mesmo tempo.
Concomitante: ensino médio regular em uma escola e o técnico em outra.
Subsequente: após concluir o ensino médio, o aluno opta por um curso técnico.
Para que serve: Forma profissionais para atuação direta no mercado de trabalho em áreas como informática, magistério, enfermagem, administração, logística, eletrônica, entre outras. Ao mesmo tempo, garante a formação básica comum do ensino médio.
🎓 Etapas da Formação Acadêmica 3. GraduaçãoO que é: É o primeiro nível do ensino superior. Pode ser de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, e tem duração média entre 2 e 5 anos.
Para que serve: Forma profissionais para o mercado de trabalho e para atuação técnica ou científica em diversas áreas. Também é o pré-requisito para cursar especializações, mestrado e doutorado.
A educação formal se inicia no ensino básico, mas ganha estrutura universitária a partir da graduação, primeiro nível do ensino superior.
4. Especialização (Pós-graduação Lato Sensu)O que é: Curso de aprofundamento em uma área específica, geralmente com duração de 12 a 18 meses, geralmente com 360 horas ou mais.
Para que serve: Desenvolve competências técnicas específicas para a atuação profissional. Geralmente, o que caracteriza a finalização de um curso de especialização — além do conteúdo — é a produção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pois ele marca o início do exercício na produção do conhecimento. Apesar do TCC, esse tipo de curso não exige a elaboração de dissertação ou tese.
Depois da graduação, muitas pessoas optam por uma especialização, que confere um aprofundamento profissional mais direto e prático.
5. Extensão UniversitáriaO que é: São cursos de curta ou média duração, voltados à troca de saberes entre universidade e sociedade.
Para que serve: Promove a democratização do conhecimento e integra práticas sociais com o ensino e a pesquisa.
Ao lado da pesquisa e do ensino, a extensão universitária atua como ponte entre universidade e comunidade, formando cidadãos críticos e conectados com a realidade social.
6. Mestrado (Pós-graduação Stricto Sensu)O que é: Curso de formação acadêmica ou profissional, com duração média de 24 meses.
Para que serve: Forma pesquisadores e especialistas. Prepara para lecionar no ensino superior e produzir conhecimento científico.
Marco importante: É quando o aluno deixa de apenas consumir saberes e começa a produzi-los sistematicamente.
7. Doutorado (PhD)O que é: O mais alto grau acadêmico. Dura de 4 a 7 anos e exige pesquisa original e significativa.
Para que serve: Garante excelência acadêmica. O doutorando escreve e defende uma tese/dissertação e contribui diretamente para o avanço do conhecimento.
Diferença central: A tese de doutorado exige autonomia intelectual e impacto para a área.
8. O que é o Doutorado Sanduíche e por que ele importa?O doutorado sanduíche é uma modalidade de estudo que permite ao doutorando cursar parte da sua formação em uma instituição estrangeira. A experiência internacional, que pode durar de seis meses a um ano, amplia fronteiras epistêmicas, culturais e políticas. Não se trata apenas de mudar de país, mas de entrar em contato com outras formas de pensar, pesquisar e existir.
O nome “sanduíche” remete à estrutura da formação: início e fim no país de origem, com uma etapa “recheada” fora. Mas essa metáfora não dá conta da densidade dessa vivência. Em vez de apenas uma camada intermediária, o doutorado sanduíche é um deslocamento que reverbera por toda a formação acadêmica — e por toda a vida.
“O doutorado sanduíche permite que estudantes de pós-graduação atravessem fronteiras físicas e simbólicas, expandindo suas pesquisas com novas lentes teóricas, metodológicas e culturais.”
Programas como o CAPES-PrInt, CNPQ, Fulbright, entre outros, tornam essa possibilidade real. Ainda que existam barreiras econômicas, burocráticas e emocionais, a internacionalização da pesquisa é também uma política pública, sustentada por recursos públicos, e deve voltar para o público em forma de conhecimento, acessibilidade e transformação dos impactos da vivência internacional na trajetória acadêmica:
- Aprofundamento teórico e metodológico
- Acesso a acervos e centros de excelência
- Desenvolvimento de novas competências linguísticas
- Fortalecimento da autonomia intelectual
- Transformações subjetivas e identitárias
A internacionalização, especialmente quando vivida a partir do Sul-ocidentalizado Global, não é apenas uma mudança geográfica. É, sobretudo, um deslocamento epistêmico. Fazer parte de uma universidade estrangeira, mesmo que por um período determinado, rompe com a lógica do pensamento único e abre espaço para novas formas de pensar, produzir e partilhar conhecimento.
No meu caso, como pesquisadora brasileira e travesti, a experiência de pouco mais de seis meses nos Estados Unidos, com financiamento público, foi profundamente significativa. Diferentemente de outras vivências internacionais que já tive, desta vez a experiência foi, ao mesmo tempo, nacional, transnacional e internacional. Embora tenha sido acolhida por um programa voltado para falantes da língua portuguesa, o foco principal era nos estudos da América Latina — o que me colocou em contato com estudantes e pesquisadores de diversas partes do mundo, especialmente da América Hispânica.
Essa vivência me permitiu articular saberes locais com perspectivas globais, contribuindo para a construção de uma ciência mais plural. A internacionalização, nesse sentido, não é apenas sair do país: é trazer o país, suas dores, suas vozes e sua complexidade para o debate internacional. É estabelecer trocas epistemológicas entre o Sul e o Norte Global, ampliando as possibilidades de produção de conhecimento a partir de experiências situadas, marcadas por contextos políticos, sociais e culturais próprios.
Fui hospedada e acolhida por um professor a quem deixo registrada minha profunda gratidão. Como eu, ele pesquisa performatividade, estudos transgêneros, estudos feministas e de gênero, sendo um intelectual comprometido com a formação de outros intelectuais. Além de sua produção acadêmica de excelência em uma das maiores universidades dos Estados Unidos — sustentada com recursos públicos — ele também atua como professor da graduação. Essa dupla atuação ampliava ainda mais a densidade e a complexidade das nossas conversas.
Apesar de não ser nativo da língua portuguesa, ele é professor de espanhol, português e inglês. A convivência cotidiana com um profissional de tamanha excelência foi, sem dúvida, um dos maiores diferenciais da minha trajetória acadêmica até aqui. Foram meses de aprendizado, amizade e admiração. Assistir ao seu trabalho de perto, literalmente ao seu lado, tornou essa imersão ainda mais rica e transformadora.
A experiência fortaleceu redes de pesquisa, fomentou parcerias entre universidades e aprofundou a cooperação científica. Mais do que um intercâmbio, foi um encontro de mundos, epistemologias e trajetórias que reafirma a importância de internacionalizar o conhecimento sem apagar as singularidades de quem somos e de onde viemos.
Pesquisa-FormaçãoEsse debate se conecta diretamente com o que Edméa Santos define como pesquisa-formação na cibercultura, uma metodologia que propõe investigar a formação em contexto digital, considerando os acontecimentos, as experiências e os encontros. A autora ecoa os estudos de Roberto Sidney Macedo, especialmente no que se refere à etnopesquisa-formação, e atualiza suas formulações para o contexto das tecnologias digitais e das redes.
Trabalhar com pesquisa-formação é compreender que o processo de pesquisa não é algo que acontece apenas em um produto final, mas ao longo de todo o percurso formativo. É pesquisa no acontecimento, na experiência, no encontro — categorias que rompem com a ideia de ciência como neutralidade e distanciamento. Na cibercultura, isso se intensifica. Produzir conhecimento é também habitar um território simbólico, digital e político.
Reflexões para a Prática DocenteEssa experiência internacional também me leva a refletir sobre como articular esses saberes com minha prática docente — uma prática muitas vezes marcada pela precarização. É um fato recorrente ser requisitada diversas vezes para opinar sobre temas complexos, como se minhas respostas fossem da ordem do acaso, e não fruto de um percurso de pesquisa e reflexão de alto nível. Aliás, escrevi exatamente isso no Manifesto Travesti: pessoas trans devem ser remuneradas pelos seus trabalhos, e não apenas consultadas como se fossem bancos gratuitos de saberes.
A seguir, algumas proposições que podem ser desdobradas em ações pedagógicas:
- Reflexão sobre a prática: Promover debates francos com os alunos sobre a importância da pesquisa, da autoria e da citação. Mostrar que citar é reconhecer, valorizar e construir comunidade. Citação também é política de memória.
- Painéis e discussões: Organizar rodas de conversa com figuras diversas — e também de renome — pode fortalecer os vínculos entre teoria e prática. É necessário zelar por uma política de inserção de novos nomes e perspectivas na cadeia citacional. Quem está sendo lembrado? Quem continua sendo apagado?
- Mentoria e escuta: Criar espaços seguros para que estudantes expressem dúvidas, dores e experiências é essencial. O acompanhamento pedagógico — sobretudo quando feito com consciência e ética — deve ser contínuo, atento e afetuoso. Imagine estudantes trans sendo alvo de piadas ou violências sutis, enquanto algumas pessoas sequer sabem como se dirigir a esses novos sujeitos da cena acadêmica?
- Reconhecimento das fontes: É urgente desenvolver práticas pedagógicas que incentivem a citação e o reconhecimento de saberes historicamente marginalizados. Escrevi a primeira dissertação de mestrado sobre cotas para pessoas trans no Brasil — uma travesti, com deficiência visual, com graves fraturas sociais e fora da “idade ideal” para a produção acadêmica. Foi um processo doloroso, exigente e solitário. Anos depois, vi uma orientação técnica de uma associação que abordava o mesmo tema omitindo completamente meu trabalho. Imagine a sensação?
Estudar fora do Brasil é, sem dúvida, um ato de coragem. É se deslocar do familiar (para o bem e para o mal), do conhecido, e se aventurar em um território desconhecido, repleto de desafios e oportunidades. As barreiras são inúmeras: a língua, a cultura, as políticas locais, as relações interpessoais. É um mergulho profundo em si mesmo, confrontando-se com suas próprias fragilidades e potencialidades, e também um mergulho na alteridade, na riqueza e na complexidade de outras culturas e perspectivas.
Para corpos dissidentes, como o meu, essa experiência se torna ainda mais intensa e significativa. O olhar estrangeiro, muitas vezes carregado de preconceitos e estereótipos, confronta-nos com a nossa própria visibilidade e vulnerabilidade. A intersecção entre gênero, classe, raça e território torna-se ainda mais evidente, exigindo uma constante negociação e reinvenção de si. É preciso lidar com a discriminação velada e explícita, com a sensação de estranheza e de não pertencimento, e com a necessidade de se afirmar e se posicionar em um contexto muitas vezes hostil.
Mas, apesar dos desafios, o doutorado sanduíche é também uma travessia libertadora cujo a experiência inclusive de exaustão faz parte do exercício dos limites. É a oportunidade de expandir horizontes, de conhecer novas formas de pensar e de fazer ciência, de se conectar com pessoas de diferentes backgrounds e experiências. É um processo de crescimento pessoal e profissional, que transforma não apenas a forma como fazemos ciência, mas também a forma como nos posicionamos no mundo. É um exercício constante de autoconhecimento, de resistência e de construção de novas identidades. Ganho de maturidade! Isso por vezes pode incluir as dificuldades enfrentadas por doutorandos(as/es) no exterior: Barreiras linguísticas e culturais, Desigualdade de acesso a bolsas, Racismo, xenofobia e transfobia em contextos internacionais são reais, Pressões acadêmicas e solidão, Logística, documentação e adaptação.
Mas fique tranquilo, quem ficou no Brasil e não entende de vida acadêmica vai acreditar que suas experiencias foram sobre compras, festas e muita bebida!
Atravessamentos: Memória, Corpos e Resistência
A lembrança do último lanche com a pós-doutoranda, professora Aline Najara, marcou um momento único de trocas. Apenas uma mulher preta, mãe, e uma travesti-pai poderiam compreender, com profundidade, o peso da frase dita por uma professora naquele dia: “A situação com Trump está ruim e difícil para todas nós.”
Mas como explicar que, dentro desse “todas”, há corpos que são alvos declarados?
Como ignorar o fato de que certos sujeitos não apenas sofrem, mas são nomeados publicamente como ameaça?
Ou acaso o governo falou tão abertamente sobre outros grupos como fez com pessoas trans?
Essa lembrança ativa uma dimensão fundamental da experiência de internacionalização: as desigualdades atravessam fronteiras.
Estar fora do país também é lidar com contradições cotidianas. Bolsas de estudo que nem sempre cobrem o custo de vida. A solidão. O racismo. A transfobia institucional. O capacitismo. A burocracia. A distância das redes de afeto.
Mas há resistência. Ela se manifesta nos encontros, nas bibliotecas, nos arquivos, nas conversas de corredor.
É nesses pequenos gestos e momentos que a experiência se consolida como um ato político: insistir em estar, existir, e pesquisar — dali.
O retorno de uma experiência como o doutorado sanduíche não marca um fim, mas sim o início de uma nova etapa. A imersão em outra cultura, a convivência com pesquisadores(as/es) de diferentes formações e a inserção em novas metodologias de pesquisa reconfiguram não apenas a produção intelectual, mas também a forma como nos colocamos no mundo. Após esse retorno, somos marcados por um desejo intenso de continuidade: de compartilhar saberes, ampliar colaborações e, sobretudo, contribuir para o avanço científico no país.
O conhecimento adquirido no exterior se expande para além dos limites da pesquisa feita durante a estadia. Ele fertiliza novos projetos, gera hipóteses inéditas e nos oferece métodos que se somam ao nosso repertório. As redes de colaboração, formadas com orientadores, colegas e instituições parceiras, transformam-se em uma base sólida para novas pesquisas e oportunidades. Essa construção de laços se revela como um capital intelectual essencial para o desenvolvimento acadêmico e científico. Aliás, tenho vivido esse momento de forma muito concreta.
Ao retornar, percebi que a continuidade não se trata apenas de publicar resultados, mas de compartilhar afetos, desafios e descobertas. Recebi mensagens que acolheram não só meu corpo exausto, mas também celebraram a importância de socializar essa vivência como uma política pública viva. Uma dessas mensagens, da professora Edmea Santos, dizia:
“Vem em paz, minha querida, com muita história para contar, experiência única. […] É muito importante que você passe essa experiência para os seus colegas de doutorado […] para fazer isso voltar para o público. […] Vem tranquila, se reencontre com sua casa que você nem habitou, se aproxegue dela e seja bem-vinda ao seu país de volta.”
Esse acolhimento me lembrou que a experiência internacional não é um luxo individual: é um investimento coletivo, financiado com recursos públicos, e deve retornar ao povo em forma de conhecimento, inspiração e transformação social.
Ao mesmo tempo, esse retorno carrega o vazio dos amigos, das redes e dos modos de vida que ficaram. Há uma ausência sentida — uma percepção da latinidade, do meu “novo Brasil”, que se faz mais intensa. Trata-se de reencontrar um país com outros olhos, de descobrir o quanto o exterior nos ensina também sobre o nosso lugar de origem.
Desigualdades e Epistemologias: Corpos em TrânsitoA experiência de mobilidade acadêmica é atravessada por marcadores sociais como gênero, raça, classe, deficiência e sexualidade. Não se trata de uma travessia neutra: certos corpos e saberes enfrentam barreiras específicas que muitas vezes permanecem invisíveis nas narrativas institucionais. Por isso, refletir sobre a vivência no exterior também exige um olhar crítico para as desigualdades que nos acompanham e para os atravessamentos que nos constituem.
No meu caso, o retorno ao Brasil não foi apenas um reencontro com minha trajetória, mas também com as redes que me sustentaram. Reencontrei pessoas trans que foram minhas orientandas de TCC, hoje fundamentais para minha ida à Universidade de Harvard. Professores parceiros, jornalistas aliados, e tantas outras pessoas que, com compromisso e generosidade, mantiveram vivo um projeto coletivo. Essa articulação, em meio às desigualdades estruturais que atravessam nossos corpos, mostra o quanto a ciência é um campo também afetivo, político e relacional.
Esses corpos dissidentes não apenas enfrentam barreiras: eles também constroem novas epistemologias. A partir das experiências vividas no exterior, criamos formas distintas de pesquisar, de nos posicionar, de narrar nossas trajetórias. Transformamos os espaços que ocupamos — tanto lá fora quanto aqui — e instauramos modos plurais de fazer ciência, com compromisso com a transformação social.
Mais do que nunca, é preciso que as instituições brasileiras reconheçam o valor dessas experiências e invistam nelas como parte essencial da formação de pesquisadores comprometidos com a ciência crítica, plural e internacionalizada. O doutorado sanduíche é uma política pública fundamental, e deve ser defendido como tal. Afinal, como dizia minha amiga, não basta ter mérito — é preciso garantir que outros e outras também possam sonhar com essa travessia.
Retorno e Continuidade: Um Novo ComeçoQuando retornamos de uma experiência transformadora como o doutorado sanduíche, não somos mais os mesmos.
Demorei exatamente 7 dias para escrever esse texto!
A imersão em uma nova cultura, a interação com pesquisadores de diferentes formações e a própria produção científica nos marcam profundamente, remodelando nossa forma de pensar, de pesquisar e de nos relacionar com o mundo. É nesse retorno que compreendemos que o “terminar” não é o fim, mas sim um novo começo, um portal para novas possibilidades e desafios. O conhecimento adquirido no exterior não se limita às fronteiras da pesquisa realizada durante o período de imersão. Ele se expande, se ramifica, criando novas conexões e abrindo novas perspectivas para projetos futuros. As experiências vividas, os contatos estabelecidos, as metodologias aprendidas fertilizam a produção científica, gerando novas hipóteses, novos métodos e novas formas de abordar problemas de pesquisa. No retorno, a pesquisa se amplia de maneira exponencial. O conhecimento adquirido durante a imersão em um novo contexto científico se funde com as experiências e conhecimentos prévios, gerando uma sinergia que impulsiona a produção intelectual. Novas colaborações internacionais são estabelecidas, abrindo portas para projetos conjuntos e a troca contínua de informações e perspectivas. As metodologias e abordagens aprendidas no exterior se integram ao repertório do pesquisador, enriquecendo sua capacidade de análise e contribuindo para a inovação científica. O doutorado sanduíche não é apenas uma experiência individual; é um processo de construção de redes de colaboração. As relações estabelecidas com orientadores, colegas e pesquisadores de outras instituições se consolidam, criando laços duradouros que impulsionam a pesquisa e a produção científica. Essas redes se tornam um capital intelectual fundamental para o desenvolvimento da carreira acadêmica, abrindo portas para novas oportunidades de pesquisa, colaboração e financiamento. Aliás tenho vivido esse momento! O retorno não representa um ponto final, mas um ponto de partida para a continuação da jornada científica. O desejo de continuidade se intensifica, impulsionado pela energia da experiência internacional e pela sede de conhecimento. Surge a necessidade de compartilhar os aprendizados, de disseminar o conhecimento e de contribuir para o avanço da ciência em nosso país. Essa continuidade se manifesta em novas pesquisas, publicações, projetos de extensão e atividades de formação de recursos humanos. No Brasil, ainda precisamos lutar pela valorização da experiência internacional como uma etapa fundamental da formação de pesquisadores. É preciso que as instituições de ensino e pesquisa compreendam o seu valor não como um luxo, mas como uma necessidade para a construção de uma ciência plural, conectada e crítica. Investir no doutorado sanduíche é investir na formação de pesquisadores mais qualificados, mais competitivos e mais comprometidos com a construção de um futuro melhor para o país. É um investimento na ciência brasileira, na sua internacionalização e na sua capacidade de contribuir para a resolução dos desafios globais. O retorno de um doutorado sanduíche não é um ponto final, mas um novo começo, um ciclo que se completa e se reinicia, impulsionando a pesquisa, fortalecendo as redes de colaboração e intensificando o desejo de continuar contribuindo para o avanço da ciência, dentro e fora das fronteiras nacionais. Posso declarar que meu retorno traz o vazio dos novos amigos, meus orientadores e supervisores e sobretudo da nocao de falta. Coisas com as quais não conseguirei viver, dentre elas o modo como senti (ou ignorei ao longo da vida) a latinidade na percepção do (meu novo) Brasil.
Desigualdades e Epistemologias: Corpos em TrânsitoA experiência de mobilidade acadêmica é atravessada por marcadores sociais como gênero, raça, classe, deficiência e sexualidade. Não se trata de uma travessia neutra: certos corpos e saberes enfrentam barreiras específicas que muitas vezes permanecem invisíveis nas narrativas institucionais. Por isso, refletir sobre a vivência no exterior também exige um olhar crítico para as desigualdades que nos acompanham e para os atravessamentos que nos constituem.
No meu caso, o retorno ao Brasil não foi apenas um reencontro com minha trajetória, mas também com as redes que me sustentaram. Reencontrei pessoas trans que foram minhas orientandas de TCC, hoje fundamentais para minha ida à Universidade de Harvard. Professores parceiros, jornalistas aliados, e tantas outras pessoas que, com compromisso e generosidade, mantiveram vivo um projeto coletivo. Essa articulação, em meio às desigualdades estruturais que atravessam nossos corpos, mostra o quanto a ciência é um campo também afetivo, político e relacional.
Esses corpos dissidentes não apenas enfrentam barreiras: eles também constroem novas epistemologias. A partir das experiências vividas no exterior, criamos formas distintas de pesquisar, de nos posicionar, de narrar nossas trajetórias. Transformamos os espaços que ocupamos — tanto lá fora quanto aqui — e instauramos modos plurais de fazer ciência, com compromisso com a transformação social.
Mais do que nunca, é preciso que as instituições brasileiras reconheçam o valor dessas experiências e invistam nelas como parte essencial da formação de pesquisadores comprometidos com a ciência crítica, plural e internacionalizada. O doutorado sanduíche é uma política pública fundamental, e deve ser defendido como tal. Afinal, como dizia minha amiga, não basta ter mérito — é preciso garantir que outros e outras também possam sonhar com essa travessia.No meu caso, o retorno foi atravessado por uma rede extensa que se articulou para otimizar o tempo e expandir os efeitos da pesquisa. Estabeleci parcerias com professores brasileiros, reencontrei pessoas trans que entrevistei no passado — algumas das quais foram minhas orientandas de TCC e, hoje, foram fundamentais para minha ida à Universidade de Harvard, por exemplo. Também estive com grupos de jornalistas parceiros e, sobretudo, com pessoas comprometidas com este tempo de mudanças.
Ao retornar, recebi mensagens que não apenas acolheram meu corpo exausto, mas também ressignificaram minha trajetória. Uma delas, enviada por uma amiga e parceira de pesquisa, a professora Edmea Santos, dizia:
“Venha em paz, minha querida, com muita história para contar, experiência única. É muito importante que você passe essa experiência para os seus colegas de doutorado, a importância de fazer um doutorado sanduíche, política pública, dinheiro público, recurso público e de tudo que se produz para fazer isso voltar para o público. Eu acho que essa mensagem precisa ser compartilhada, como política pública que é, para além dos méritos todos que você tem. Então, vem em paz, venha tranquila, se reencontre com sua nova casa que você nem habitou, se aprochegue nela e seja bem-vinda ao seu país de volta, porque trabalho por aqui não falta. Mas descanse, tá, Sara? Por favor. Beijo grande.”
Educar-se é lançar-se no mundo, abrir caminhos, encontrar novos sentidos para velhas perguntas. Atrevo a dizer que é cultivar novos traumas para antigas questões.
O doutorado sanduíche, nessa travessia, ensinou-me que não se trata de terminar, mas de continuar.
Trata-se de retornar com outras perguntas, de trazer o que foi vivido para dentro de casa, de olhar para o próprio território com mais cuidado, complexidade e compromisso. Internacionalizar-se não é uma fuga, mas um reencontro com o que se é — em relação, em contraste, em crítica.
Por isso, encerro esta escrita reforçando a importância dos programas de internacionalização como caminhos de abertura epistêmica. Eles devem ser espaços de trânsito e não de silenciamento, de escuta e não de assimilação, de pluriversalidade e não de homogeneização.
Investir em experiências como essa é apostar em uma ciência mais crítica, situada e engajada — comprometida com a justiça cognitiva, com a diversidade de corpos e saberes, e com a possibilidade real de transformar o mundo com outros olhos, outras vozes e outros sentidos. Terminar nunca foi o bastante para mim — e talvez não devesse ser para ninguém.
Educar-se é lançar-se no mundo, abrir caminhos, encontrar novos sentidos para velhas perguntas.
Novos traumas e novíssimas e eficazes boas respostas!
Conto mais, a seguir, direto de um pós-doc… Aliás:
9. O que é o Pós-Doutorado?O pós-doutorado é um período de pesquisa que um doutor realiza após concluir seu doutorado. Ele é realizado em universidades ou instituições de pesquisa e tem como objetivo:
- Aprimoramento de habilidades: Os pesquisadores têm a oportunidade de desenvolver novas competências e aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas.
- Exploração de novas ideias: É um momento para experimentar novas metodologias e abordagens em pesquisa.
- Colaboração: Os pós-docs frequentemente colaboram com outros pesquisadores, o que pode levar a novas publicações e inovações.
- Experiência: Proporciona mais experiência em pesquisa, o que é valioso para a carreira acadêmica e profissional.
- Visibilidade: Ajuda a aumentar a visibilidade do pesquisador na comunidade científica.
- Networking: Permite construir uma rede de contatos com outros acadêmicos e profissionais da área.
- Aprofundamento: É uma oportunidade para se aprofundar em um tema específico, contribuindo para o avanço do conhecimento na área.
Tão surreal chamar profissionais sem doutorado de doutor é se apresentar como pós-doutor por ter feito esse estágio! Nesse mundo de doutores, os mais sabios e relevantes que conheci eram sempre os que menos preparados esteticamente pareciam. Estamos falando de um mundo de méritos e métricas, de egos e desejos, então mesmo quando estamos falando sobre cura do cancer ou polímeros de precisao, sempre tem um elemento humano e isso deve ser sempre levado em conta.
Entendeu, né?!
Sobre autoria:

Sara York é doutoranda em Educação e ativista trans/intersexo. Para saber mais: sarawagneryork.com
Editores/as Seção Notícias:
Felipe Carvalho, Frieda Maria Marti, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel