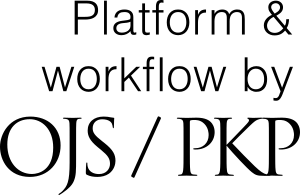Cadê a travesti que está(ava) aqui? Desafios e resistências de uma travesti no ensino superior
Autoria: Josy Maria Alves de Souza
O ensino superior no Brasil é tradicionalmente marcado por normas e padrões hegemônicos que permeiam as estruturas cis-heteronormativas e as práticas acadêmicas. Frequentemente, essas normas ignoram ou marginalizam as vivências de pessoas travestis, resultando em marginalização tanto de representação de nossos corpos quanto de reconhecimento epistemológico. A falta de representação não é culpa daquelas que não chegaram lá, como diria Conceição Evaristo em repreensão a mim, mas sim da insuficiente implementação de iniciativas inclusivas para identidades minorizadas.
A academia[1], conforme apontamentos de Heleieth Iara Bongiovani Saffioti em seu texto Primórdios do conceito de gênero (1999), negligenciou as questões de gênero até o final da década de 70 do século passado, quando, então, segundo a autora, passou a incorporá-las e a debater questões relacionadas ao gênero a partir dos estudos formulados por Robert Jesse Stoller e de Gayle Salomon Rubin e das buscas pelos direitos das mulheres a partir de uma visão feminista, especialmente do feminismo negro. Isso demonstra como as relações de poder fincadas no homem branco-cis-hétero moldaram as percepções sobre gênero e sexualidade nos ambientes acadêmicos, e influenciou de maneira imediata não apenas a não inclusão, mas também a foraclusão (Beatriz Bagagli, 2018) de identidades trans. Nessa perspectiva, o sistema-mundo colonial evidencia a intersecção entre a colonialidade, a branquitude e a cisgeneridade para mostrar como as dinâmicas de poder têm historicamente agido para produzir tecnologia de poder para marginalizar identidades dissidentes e apagar nossas epistemologias.
Na mesma linha, Lima e Silva (2021), denunciam que nos ambientes escolares e acadêmicos, os padrões heteronormativos impõem práticas de apagamentos das identidades e sexualidades dissidentes, demonstrando que essas práticas se manifestam em resistências e microagressões institucionais cotidianas ancoradas na cisgeneridade. A cisgeneridade, nesse sentido, se configura como uma construção social que deve ser desconstruída para permitir uma inclusão genuína das identidades trans, questionando as normas que definem quem pode ser considerado legítimo e/ou autêntico para apresentar-se ou ser representado, essa desconstrução deve subverter, por meio do material ético-político da transgeneridade, os comandos estabelecidos pela cisgeneridade (Bagagli, 2014).
Nos últimos anos, têm surgido movimentos de resistência e avanços importantes na luta pela inclusão e valorização das identidades transvestigêneres dentro das instituições acadêmicas. Este texto, sem maiores pretensões, discute de forma expositiva os desafios, enfrentamentos e avanços no ensino superior a partir de uma perspectiva travesti autora, abordando questões como representatividade, uso do nome social, solidão e apagamentos trans-epistemológicos (trans- epistemicídio).
A apresentação e a representatividade trans no ensino superior é escassa. A falta de docentes, pesquisadoras e estudantes trans perpetua um ambiente desfavorável e hostil e colabora para a invisibilização das demandas e contribuições de pessoas trans. Além disso, apesar das legislações que garantem o uso do nome social, há resistência e burocracias institucionais que dificultam sua plena implementação e promovem microagressões, negando debates inclusivos em um cenário que perpetua a opressão simbólica e a exclusão das identidades de gênero trans, ao tempo em que mantém uma estrutura excludente.
A solidão é outro fenômeno comum para pessoas trans nesse ambiente. A falta de pares e de redes de apoio cria um sentimento de isolamento que é exacerbado pela transfobia e pela falta de compreensão sobre as questões trans existenciais. Essas ausências, aliadas à de aliades, aliadas e aliados, resultam ainda em um ambiente solitário e desmotivador. Essa mesma solidão acadêmica impede o senso de pertencimento e de comunidade e pode levar ao abandono dos estudos e a uma menor participação em atividades de pesquisa e extensão, limitando o nosso potencial de contribuição acadêmica. Essa é uma das maneiras de promover os nossos apagamentos ou fazer com que nossas contribuições sejam subvalorizadas.
Nessa perspectiva, a marginalização não somente silencia as nossas vozes, mas também empobrece o campo acadêmico ao restringir a diversidade de perspectivas e conhecimentos porque quando nossas vozes são silenciadas, perde-se a oportunidade de um novo olhar também sobre o que já está posto por “verdade”, uma vez que na produção dessa verdade o olhar hegemônico frequentemente menospreza as diferenças de identidades não estabelecidas por esse olhar. Essa perspectiva vislumbra as palavras de Patricia Hill Collins (2016, p. 123) para quem “a realidade vivenciada é usada como fonte válida de conhecimento para criticar fatos e teorias sociológicas, ao passo que o pensamento sociológico oferece novas formas de ver esta realidade vivenciada”.
Uma travesti é uma pessoa designada do gênero masculino no nascimento, mas que constrói uma identidade feminina. É uma identidade de gênero predominantemente latina, mas às vezes, dado ao desejo de viver com alguma dignidade, transita pelas nações europeias e, latina, retorna como uma travesti europeia para satisfazer as lascívias econômicas daqueles que as expulsaram de seus lares.
Às vezes, dada a ‘sorte’, pode viver mais tempo como adulta do que como criança porque, quando adulta, corre riscos ao sobreviver, em especial no Brasil, o país que mais mata travestis por mais de uma década seguida, como contabilizam os dados não oficiais em virtude da inércia do Estado em reconhecê-las.
De toda forma, neste país que mais nos mata, uma pessoa travesti é, explicam as pesquisadoras trans Sara Wagner York, Megg Rayara Gomes de Oliveira e Bruna Benevides (2020, p. 2)
É o reconhecimento de um outro corpo possível, legítimo, além daquele normatizado. É a constituição de uma identidade real (quando apresenta materialmente seu corpo), social (quando transita entre os espaços) e política (quando reivindica direitos – de fato e de direito). Essa mesma identidade social, que é produtora de cultura, rompe com os signos binários estáticos e expressa-se como pertencente ao gênero feminino,
embora a pesquisadora travesti Sara Wagner York relate ter sido judicialmente descrita como “um ser estranho e noturno com estranhos hábitos noturnos” e, quando essa travesti avança os limites impostos pela cisgeneridade, ela é um fracasso dessa cisgeneridade.
O título principal deste texto Cadê a travesti que está(ava) aqui? pode ressoar uma retórica . No entanto, ele sublinha uma transitoriedade que não é percebida pelo ambiente acadêmico. Sim, eu ultrapassei o arame farpado que separa nossas corpas travestis dos espaço de poder). Aqui, busco destacar barreiras encontradas, conquistas alcançadas perspectivas para nossas transvestilidades neste espaço: a academia.
Encontrar uma travesti no espaço acadêmico é, relativamente, um fenômeno social. Aqui, nos somamos às demais identidades transgressoras para compor 0,02% do público acadêmico. Isso porque nossa presença é cotidianamente relegada às esquinas onde “De noite pelas calçadas / Andando de esquina em esquina / Não é homem nem mulher / É uma trava feminina”[2] e onde as violências “bomba[m] pra caralho” e onde, “baseado em carne viva e fatos reais/ É o sangue dos[das] meus [nossas] que escorre pelas marginais”[3]. Nelas somos habilitadas a transitar, desde que ocultas pela escuridão, mas não tanto que escapemos aos olhares de transeuntes machos da família conservadora e tradicional brasileira. Sair dessas esquinas já nos é uma conquista; já é um sinal do nosso fracasso: um fenômeno, um acontecimento, mas é também uma forma de resistência ao controle do cis-heteropatriarcado. Nesse sentido, nossa performatividade de gênero é continuamente subversiva.
Butler (2017) aponta que a identidade de gênero é performativamente construídas. Essa construção, como apontam o conjunto dos seus estudos, pode permitir atos subversivos que desafiam as normas hegemônicas, à medida em que por sua iterabilidade (Jacques Derrida, 1991), pode não apenas reforçá-las, mas também as subverter.
O fenômeno de uma travesti no espaço acadêmico reflete uma subversão dessas normas e refletiria também uma conquista mais que significativa em termos de acesso e representatividade, não fossem os desafios, as resistências e as invisibilidades que nos atingem também quando estamos na academia. A nossa visibilidade neste espaço ainda se dá sob uma penumbra.
Questões como preconceito, violência, exclusão e expulsão frequentemente irrompem em nossas trajetórias educacionais, interrompendo-as ainda durante o ensino básico. Chegar ao ensino superior não é o nosso primeiro desafio sistêmico. Antes dele, temos que enfrentar as primeiras expulsões, que são normatizadas pelas organizações e pelas instituições. Essas primeiras expulsões podem ocorrer de forma sutil e burocrática: a recusa do nome social, o uso de uniformes de outro gênero. “Mãe, não vou mais pra escola.” “Oxente! Mode que?” 5[4] Não há explicação a ser dada porque, para criança ou adolescente trans, a percepção do outro a condena à inadequação, à culpa, isso porque para ele, ser diferente é ser culpado.
Essas barreiras invisíveis e muitas vezes silenciosas podem afetar profundamente a autoestima e a confiança dos indivíduos trans, tornando ainda mais difícil o acesso e a permanência na educação básica. A falta de acolhimento e respeito por parte das instituições de ensino contribuem para a minimizar as nossas trans-existências e muitas vezes somos obrigadas a abandonar os estudos em uma foraclusão, também invisível. Tal invisibilidade é reforçada pela ausência de uma busca ativa por nossos corpos e nossas transvivências, que ainda permanecem relegados às esquinas, distantes deste espaço acadêmico. Nesse sentido, para as pessoas trans que transpõem essas barreiras a luta ainda não é finda, isso porque nosso ingresso na universidade é um ato de resistência, mas também o começo de uma jornada tumultuada e repleta de novos enfrentamentos.
Dentro das instituições de ensino superior, ainda enfrentamos uma série de microagressões. Por quê? Nelas há acordos tácitos: “vamos falar delas somente para marginalizá-las”. Se a aula é sobre identidade ou sexualidade, a travesti é um singular exemplo para docentes, a partir de ‘suas narrativas’ sobre nossos corpos, instruírem seus alunos sem maiores aprofundamentos, sem maiores incredulidades: a travesti é quase um dogma identitário: basta elencar nossas não existências no espaço do debate e logo todas as nossas culpas serão resumidas comodamente no contexto avaliativo. Nessa perspectiva “dogmática”, tal como escreve o pesquisador trans Juno Nedel (2020, p. 23), “o monopólio das narrativas trans por parte das pessoas cisgêneras configura uma injustiça epistêmica que nos obstrui o lugar de agentes de nossas próprias ficções”[5].
Os debates sobre travestidades trazidos à academia estão quase sempre relacionados a uma página de jornal, onde os noticiários dissecam o corpo travesti que tem escorrido seu sangue na margem; uma simples forma de reconhecer essa identidade de gênero, afinal, para que reconhecê-la? Megg Rayara Gomes de Oliveira aponta uma dinâmica para essa vigília da violência do corpo travesti descrevendo que a imprensa sempre descreve “um sujeito travesti marginal que assume visibilidade através de notícias relacionadas à ‘desordem’ da cidade: brigas, assassinatos, roubos etc.” (Oliveira, p. 170). A lógica não é diferente quando o assunto advém de algum aluno ou aluna não-travesti: eles não têm uma amiga travesti para chamar de sua. Nesse sentido, nossa identidade travesti não raras vezes é o centro do debate, “mas as reflexões permanecem superficiais sobre nossas experiências e modo de pensar” (Oliveira, 2018, p. 174). Tão superficiais que uma travesti não vislumbra ser parte de ementa acadêmica. Vislumbra sim. E é esse vislumbre que carrega consigo a potência de resistir e ocupar os espaços que historicamente nos excluíram.
Nesse cenário acadêmico, salvo a transgressão de uma sigila e preciosa lista de docentes transgressores das normas academicistas, a inclusão de epistemologias travestis na grade curricular. O mínimo de nossas existências neste ‘sagrado’ documento já demonstraria não apenas uma questão de justiça social, mas também de enriquecimento intelectual, pois as nossas experiências e saberes trazem novas perspectivas e questionam as bases sobre as quais o conhecimento acadêmico é construído, funcionando, assim, como um instrumento de combate ao trans-epistemicídio.
Em todos os sentidos, a matriz colonial de poder se soma às múltiplas opressões das hegemonias e provocam o trans-epistemicídio[6] dos nossos saberes, dos nossos valores e dos nossos corpos trans, fazendo-nos não-pessoas, não-ser, silenciadas e como tal, não somos consideradas pelo Estado como sujeitos plenos de direitos.
Ressalto, nesse diapasão contra os silenciamentos de nossas identidades, o Megg Rayara Gomes de Oliveira, em seu artigo A cobaia agora é você! Cisgeneridade branca, como conceito e categoria de análise, nos estudos produzidos por travestis e mulheres transexuais (2023) faz ressoar sobre o objetivo dos nossos silenciamentos: para autora, o silêncio “atua para estabelecer o homem branco cisgênero heterossexual como norma de humanidade” (Oliveira, 2023, p. 157); ele funciona, pontua a autora, como “estratégia para negar a existência plena de travestis e mulheres transexuais, negras e brancas, no espaço acadêmico” (Oliveira, 2023, p. 157) e é nesse sentido que o silêncio funciona como instrumento hegemônico para negar valores e promover o epistemicídio de saberes não hegemônicos. Esse funcionamento articula uma licença para o trans-epistemicídio uma vez que, invisibiliza e recusa nossas narrativas no processo de produção de conhecimento. Contra essa ausência de discussão de nossas experiências e pautas, pontua York (2020, p. 151):
1) os corpos trans e suas experiências, impõem uma desnaturalização das normas de gênero, tão necessária em nossa sociedade; 2) a discussão trans traz para ciência e seus espaços o questionamento de hierarquizações historicamente constituídas. Quem pode falar e quem é ouvido? 3) é necessário que a ciência se comprometa com a afirmação e garantia dos direitos de todos os segmentos sociais, com a voz e suas experiências, rompendo assim as estruturas de subalternização,
e é contra as estruturas subalternizantes que os estudos trans buscam o conceito de epistemicídio para referenciar os apagamentos epistêmicos de nossas experiências, lançando mão do trans-epistemicídio como redução à morte dos saberes e conhecimentos a partir da dominação político-ideológica (York, 2020).
Na universidade, o fenômeno do trans-epistemicídio se manifesta de diversas formas: eu mesma vivenciei o trans-epistemicídio de maneira direta, através de situações em que meus saberes foram desqualificados, minhas práticas ignoradas e o meu nome e os nomes de travestis foram desagregados da nossa identidade e subjugados como de menor valor jurídico, um não signo, e, portanto, sem representação.
Para mim, contribuir para a pavimentação desse caminho significa enfrentar de forma direta a reprodução de estruturas patriarcais manifestas em vários contextos sociais, incluindo o profissional e acadêmico. Isso implica um enfrentamento constante aos conflitos e as transfobias nas minhas interações sociais e com as políticas institucionais.
No centro do debate, a travesti ainda não é uma sujeita ativa (sem duplo sentido) do meio, mas, como já ressaltei, exemplos abstratos que servem à ilustração de teorias de formas despersonalizadas e falhas no reconhecimento das nossas experiências. Essas microagressões podem afetar significativamente o nosso desempenho acadêmico. Nesse sentido, o estereótipo de uma travesti na universidade ainda é negativo e perpetua a exclusão, a invisibilidade e a marginalização de nossas corpas, porque aqui, sua identidade é apenas substantivada.
Se uma travesti na academia, não poucas vezes ela está insólita, solitária, em uma dinâmica que contribui para que ela se sinta constantemente invalidada e invisibilizada. A solidão de uma travesti neste espaço nem sempre está acompanhada da ausência de outra travesti ou não socialização, mas está acompanhada da ausência ou da escassez de aliados verdadeiros, da falta de representatividade nas literaturas recomendadas e nos corpos docentes. Neste espaço, a solidão de uma travesti é palpável: não há abraços, não muitos, isso porque, enquanto lutam por justiça e igualdade, os movimentos sociais também perpetuam outras formas de exclusão, revelando uma ausência de pautas que incluam as travestilidades: um reflexo das armadilhas cisnormativas que permeiam todas as esferas da sociedade e um não-abraço.
Apesar dos desafios, a presença de travestis na academia é, como adiantei, também uma narrativa de resistência e resiliência. Cada travesti que entra e permanece na universidade pavimenta o caminho para que outras cheguem e tentem seguir.
Um futuro mais promissor e inclusivo para nossas corpas é vislumbrado quando constatamos crescentes, embora tímidas, políticas de inclusão, tais como cotas para transexuais e travestis e programas de assistência estudantil específicos. Ainda assim, muitas iniciativas ainda são necessárias para transformar a academia em um espaço verdadeiramente inclusivo para pessoas travestis, um espaço onde as perguntas “cadê a travesti que está(ava) aqui?” se torne obsoleta não por invisibilidade, mas por uma presença tão comum e aceita quanto quaisquer outres.
O futuro começa a se desenhar promissor com a oferta, ainda que delineada por iniciativas particulares de docentes de uma sigila e preciosa lista de transgressores, de disciplinas sobre gênero, inclusão, diversidade, linguagem e direitos. Além disso, seminários que discutem o papel das mulheres frentes às opressões do patriarcado, políticas antirracista, anti-lgbtfóbicas e anti-capacitistas, iniciativas de valorização de escritas transgressoras do sistema euro-cis-branco-héterocentrado e até aulas-magnas com pesquisadoras travestis têm ganhado espaço, sinalizando uma saída da corpa travesti da penumbra e das sombras para a luz do reconhecimento e de uma justiça epistêmica.
NOTAS
[1] No contexto deste texto, o termo “academia” se refere ao ambiente institucional de ensino superior e produção de conhecimento.
[2] Vídeo-clip “Mulher”, de Linn da Quebrada. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=- 50hUUG1Ppo&ab_channel=LinndaQuebrada>. Acesso em: 28 jun. 2018.
[3] QUEBRADA, Linn da; LINIKER. Bomba pra caralho. Álbum Pajubá, 2017.
[4] Uma referência ao texto “Nóis mudemu”, de Fidêncio Bogo, na obra O quati e outros contos (2001).
[5] Miranda Fricker (2007, p. 1) define injustiça epistêmica como “um mal cometido contra alguém especificamente na sua qualidade de conhecedor”.
[6] Termo “epistemicídio” é utilizado por Boaventura de Sousa Santos em obras como “Epistemologias do sul” é explicado pelo sociólogo como um processo que provoca a “destruição de formas de saber locais, a inferiorização do outro, e cujos desígnios da dominação colonial e imperial provoca o desperdício da diversidade cultural que protagoniza múltiplas visões do mundo”. Para o autor, o epistemicídio constitui “uma relação violenta de destruição ou supressão de outros saberes” (Sousa Santos, 2009, p. 468) e a “supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um conhecimento alienígena” (Sousa Santos, 2009, p. 10). O epistemicídio, dispõe Sueli Carneiro (2005) fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender.
REFERÊNCIAS
BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. Foraclusão do termo cisgênero e a política do significante. Transfeminismo. 2018. Disponível em: <http://transfeminismo.com/foraclusaodo-nome-cisgenero-e-a- politica-do-significante/>. Acesso em: 31 mai. 2024.
BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. O que é a transgeneridade em seu vetor material? Transfeminismo, 2014.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. (Doutorado em Filosofia da Educação), 339 f. – FE/USP, São Paulo, 2005.
COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within. Sociedade e Estado, v. 31, p. 99-127, 2016.
DERRIDA, Jacques. Limited inc. Campinas: Papirus, 1991.
FRICKER, Miranda. Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press, 2007.
LIMA, Nilvanete Gomes de; SILVA, Annie France dos Santos da. Cisgeneridade e Transgeneridade em Discursos: Uma Análise Foucaultiana dos Apagamentos e das Resistências no Centro de Ensino Paulo VI em São Luís, Maranhão. Pesquisa em Foco 26, no. 2. 42-74, 2021.
MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFÓGUEL, Ramon (Org.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p. 127-167
NEDEL, Juno. O corpo como arquivo: tensionando questões sobre história e memória trans. Revista Eletrônica Ventilando Acervos, Florianópolis, v. especial, n. 1, p. 16-41, 2020.
OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes de. A cobaia agora é você! Cisgeneridade branca, como conceito e categoria de análise, nos estudos produzidos por travestis e mulheres transexuais. Caderno Espaço Feminino. Uberlândia, MG. v.36, n.1: 2023.
OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes de. Por que você não me abraça? Reflexões a respeito da invisibilização de travestis e mulheres transexuais no movimento social de negras e negros. Revista Internacional de Direitos Humanos. SUR 28 - v.15 n.28, 167-179, 2018.
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos Pagu, no. 12 (1999): 157-163, 1999.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. Epistemologias do sul. Org: Boaventura de Sousa Santos. Almedina: Coimbra, 2009.
YORK, Sara Wagner. Tia, você é homem? Trans da/na educação: Des(a)fiando e ocupando os “cistemas” de Pós-Graduação. 2020.190 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,2020.
YORK, Sara Wagner; OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes; BENEVIDES, Bruna G. Manifesto Travesti. 1. ed. São Paulo - SP: Devires, 2020.
Sobre a autoria:

Josy Maria Alves de Souza é travesti, professora, Mestra em Letras pela Universidade Federal de Rondônia e Doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa pela FCLAr/Unesp, onde desenvolve pesquisa focada nas formas de vida de travestis e mulheres trans, articulando autoetnografia e semiótica discursiva.
Como citar este artigo:
Souza, Josy Maria Alves de.Cadê a travesti que está(ava) aqui? Desafios e resistências de uma travesti no ensino superior. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, janeiro de 2025, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Sara Wagner York, Felipe Carvalho, Frieda Maria Marti, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel