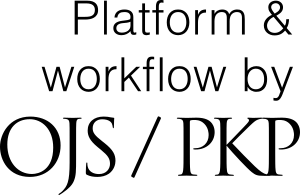Conexões, quebras e exposição à diferença: o trabalho da imprevisibilidade na integração entre o museu e a comunidade desde o projeto Nós no MAST
Autoria: Ricardo Scofano; Larissa Valiate; Cristiane de Oliveira Costa; Douglas Falcão
Os lugares não têm de ter fronteiras no sentido de divisões demarcatórias. É evidente que as ‘fronteiras’ podem ser necessárias, por exemplo, para as intenções de certos tipos de estudos, mas elas não são necessárias para a conceituação de um lugar em si. A definição, nesse sentido, não deve ser feita por meio da simples contraposição ao exterior; ela pode vir, em parte, precisamente por meio da particularidade da ligação com aquele exterior, que, portanto, faz parte do que constitui o lugar. (MASSEY, 2000, p. 184, grifos nossos)
É no bairro de São Cristóvão que se encontra o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), situado na zona central da capital fluminense. Entrecortado pelo metal que sustenta uma importante via expressa da cidade, a Linha Vermelha, em composição com prédios não muito altos erguidos aqui e ali, São Cristóvão figura como um espaço urbano de tonalidades contrastantes, que vão do cinza chumbo dos prédios ao exuberante verde de frondosas árvores. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), moravam nesta localidade cerca de vinte e seis mil pessoas, distribuídas pela extensão territorial de quatro quilômetros quadrados.
Fazemos essa contextualização geográfica para, em outras palavras, dizer que o bairro de São Cristóvão é relativamente pequeno (em escala de Rio de Janeiro), ainda que tenhamos, em escala de Brasil, municípios consideravelmente menores em sentido populacional. Neste jogo proposital de escalas, distâncias e visibilidades tão díspares, nada nem ninguém – com o perdão da redundância – é autoevidente por si mesmo, dependendo precisamente do tipo ou qualidade de ligação que estabelece com o seu ‘exterior’ para poder ser visto e reconhecido. Nessa acepção, menos do que representarem linhas duras e intransponíveis, fronteiras podem funcionar como limites móveis, contingentes e mutáveis, testemunhas diretas dos modos pelos quais podemos nos relacionar com o mundo ao nosso redor e o outro.
Fronteiras são zonas de choque, rupturas e encontros, atuando diretamente na modulação subjetiva da percepção espaço-temporal que temos da cidade, do bairro em que vivemos e dos demais lugares que frequentamos. Onde entrar ou não, com quem estar, de que modo se portar, o que vestir, o que não fazer, são apenas alguns indícios de como uma experiência fronteiriça pode, cotidianamente, ser vivenciada por nós. E é desse ponto fronteiriço, agora esquadrinhado, que pretendemos fazer uma inflexão no texto aqui escrito, adicionando outros atores à história que desejamos contar. Isso porque nos preocupamos, ao falarmos de fronteira, com a zona de contato que pode unir – ou simplesmente separar – o Museu de Astronomia e Ciências Afins do seu público potencial, os (as) moradores (as), estudantes e trabalhadores (as) de São Cristóvão, lugar onde nossa instituição se encontra instalada.
Como dito anteriormente, São Cristóvão não é grande em extensão, característica que, em tese, facultaria à população local a fácil identificação de pontos de possível interesse cultural, ainda que este interesse possa ser encarnado por um leque verdadeiramente diverso de manifestações socioculturais: do karaokê da Feira de Tradições Nordestinas, aos piqueniques na Quinta da Boa Vista; do shopping chão que invade a Rua Bela na madrugada de domingo, aos jogos de futebol que acontecem no estádio de São Januário, passando igualmente por outros museus que se unem à geografia do bairro, tal como o Museu Nacional, o Museu do Primeiro Reinado ou o Museu Militar Conde de Linhares. Acontece que, mesmo diante de uma geografia aparentemente favorável, não é raro que nos deparemos com parceiros (as) e interlocutores de pesquisa, também radicados em São Cristóvão, que desconhecem o Museu de Astronomia e Ciências Afins.
Não obstante, sondar as razões que possam justificar esse desconhecimento foge das intenções perseguidas por nós, uma vez que, ao invés de compreender os motivos pelos quais a instituição supostamente não chega em determinados espaços, é do nosso querer fazer com que o museu no qual trabalhamos crie um território existencial singular, forjado através de conexões e vínculos com a comunidade que se retroalimentam, podendo ganhar autonomia, robustez e solidez ao longo do tempo. Falamos, portanto, de um trabalho de artesania das relações, predominantemente experimental e sensivelmente aberto às reconfigurações que a exposição à diferença pode suscitar, sendo este trabalho efetuado no âmbito do projeto Nós no MAST, sob supervisão do pesquisador Douglas Falcão.
Assim, na coreografia de ações e movimentos que temos feito no projeto, nossa impressão, germinativa por definição, é a de que para estabelecermos parcerias que envolvam a integração entre o museu e a comunidade – afazer prioritário do projeto de pesquisa ao qual estamos ligados(as) – é necessário suspeitar, em primeiro lugar, sobre aquilo que o museu é, em nome daquilo que ele pode vir a ser em contato com o seu público. Tecer laços comunitários, nesse sentido, significa produzir múltiplas figurações imaginativas sobre o museu, assumindo que variação das imagens geradas expressam, justamente, a impossibilidade de dizermos e vermos o museu de um único modo.
Dessa maneira, dentro do arco de alianças por nós produzidas: com escolas públicas e particulares (E.M Edmundo Bittencourt; E.M Canadá; Colégio Pedro II; Escola de Atletas do Vasco da Gama), e também com unidades de saúde (Maternidade Fernando Magalhães e Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão), percebemos que o museu pode exercer funções nem sempre previstas ou previsíveis, como aconteceu no trabalho realizado junto à Escola Municipal Canadá ao longo de 2023. Em uma atividade de fechamento do ano proposta pela equipe do Nós no MAST, a professora parceira do projeto, responsável por uma turma de quinto ano, nos disse estar profundamente surpresa com a participação específica de uma aluna na ação que havíamos proposto, ação essa que consistia basicamente num exercício de rememoração do trabalho desenvolvido em 2023 (para nós, uma maneira de perceber aquilo que ficou marcado para os estudantes no que se refere às ações realizadas). De acordo com a professora, a aluna em questão nunca havia ido até à frente da sala de aula para falar, nem lido textos em voz alta quando solicitada, atribuindo à presença do museu na escola tal mudança de postura, positivamente valorada na ocasião.
Figura 1: Atividade educativa com uma turma de 5º ano da E.M. Canadá, com uso de óculos de realidade virtual

Fonte: autores
Poderíamos multiplicar o relato de pequenos acontecimentos para os quais vemos, curiosamente, nossa atenção se voltar. Ainda nessa mesma escola, quando fazíamos uma atividade sobre o eclipse solar que se aproximava, fomos surpreendidos por um conflito que se instaurou na sala de aula entre dois grupos de alunas. Aproveitando a organização da sala em fileiras, usávamos óculos de realidade aumentada para apresentar, aos estudantes, as crateras e o solo lunar. Em dado momento, enquanto avançávamos pelas carteiras, duas alunas nos interpelaram e pegaram em nossas mãos nos dizendo que “agora vamos ensinar vocês a pegarem santo, a incorporar”. Ao perceberem o que acontecia, uma outra aluna nos advertiu que aquilo que as colegas tentavam nos ensinar “era coisa do diabo”, repreendendo a atenção que dirigíamos às alunas “macumbeiras”.
Nessa perspectiva, o trabalho com as demais escolas está sempre orientado a partir do contexto de cada uma delas. Entendemos que é central para o projeto romper uma postura voltada apenas ao ensino, em que a aproximação dos parceiros se dá com ideias prontas, a partir de ações que o museu já oferece. O planejamento com a E.M. Edmundo Bittencourt e a E.M. Walter Carlos Magalhães Fraenkel se iniciou em reuniões com professoras e pedagogas das escolas para pensar quais ações e sentidos seriam interessantes para cada contexto. Desse modo, em um encontro para planejar ações pedagógicas, o desejo que tem nos orientado é o de abrir o museu para possibilidades que surjam a partir do outro, em proposições conjuntas, muito além de seus usos tradicionais. Ao trazer estas provocações, de que o museu está aberto para o novo, a surpresa de uma professora de ciências se destacou por meio de uma de suas falas: “Nossa, Museu de Astronomia… achei que seria sobre planetas e sistema solar e ‘tô’ vendo que pode e é muito mais que isso!”. Já uma das diretoras manifestou o desejo de promover uma apresentação do coral de alunos no espaço do museu, assim como uma exposição de telas pintadas por eles, que compõem um projeto pedagógico maior da escola.
Esta abertura para o imprevisível tem nos permitido diversificar não só os públicos, mas também a natureza das ações educativas do museu, como a realização do Dia Mundial da Infância, iniciativa do Hospital Maternidade Fernando Magalhães, que contou com a presença da ovelha Rebeca, animal de suporte emocional já conhecida entre museus e centros culturais da cidade. O evento consistiu em ações de pintura para crianças, um piquenique no gramado do museu em conjunto com as famílias e uma contação de histórias sobre o céu do povo Ticuna promovida por educadoras museais.
Nossos modos de fazer funcionar o projeto também estão se redesenhando a partir dos laços formados e experiências com as equipes de saúde do Centro Municipal Heitor Beltrão, na Tijuca. O MAST passou a contribuir em atividades continuadas no território, que compreendem ações de promoção de saúde integradas a iniciativas educativas, científicas e culturais. Uma delas tem como cenário a favela do Catrambi, onde se confundem os afetos, as demandas dos médicos, os relatos e saberes das crianças e jovens, as peças das coleções do museu e os momentos de jogar bola.
Assim, de modo um tanto quanto oblíquo, evitando, de igual maneira, reduções maniqueístas que limitem a complexidade do gesto educativo ao ensino de conteúdos, o que tentamos fazer ver, com as situações evocadas, passa por evidenciar elementos nem sempre metrificáveis, afastando-nos daquilo que Miller (2014) e Taubman (2009) chamam de “cultura da testagem” (MILLER, 2014, p. 2053) na educação, com a finalidade de reafirmar que o envolvimento com a comunidade e o público do museu passa, prioritariamente, por demorar-se nestes pequenos acontecimentos que se abrem diante de nós, pois são eles que geram uma exposição ao mundo de ordem mais visceral, criando um sentido de presença que nos liga ao outro não por características que possamos ter em comum, mas pela diferença partilhada que pode, paradoxalmente, nos aproximar.
Referências:
MASSEY, D. Um sentido Global de Lugar. (In) ARANTES, A. (Org.). O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000, p. 176- 185.
MILLER, J. Teorização do currículo como antídoto contra a cultura da testagem. Ecurriculum, v. 12, n. 3, p. 2043-2063, 2014.
TAUBMAN, P. Teaching by Numbers: Deconstructing the Discourse of Standards and Accountability in Education. New York: Routledge, 2009.
Sobre a autoria:
 Ricardo Scofano é Doutor e Mestre em Educação pela UFRJ, com seus estudos focados na interface entre teoria curricular e filosofia da diferença. Na pós-graduação, participou do Bando de Estudos e Pesquisas em Currículo, Ética e Diferença, o BAFO!. É licenciado em Geografia pela mesma instituição. Atualmente, integra o projeto de pesquisa Nós no MAST, com bolsa PCI-DB pelo CNPq, sob supervisão de Douglas Falcão.
Ricardo Scofano é Doutor e Mestre em Educação pela UFRJ, com seus estudos focados na interface entre teoria curricular e filosofia da diferença. Na pós-graduação, participou do Bando de Estudos e Pesquisas em Currículo, Ética e Diferença, o BAFO!. É licenciado em Geografia pela mesma instituição. Atualmente, integra o projeto de pesquisa Nós no MAST, com bolsa PCI-DB pelo CNPq, sob supervisão de Douglas Falcão.
 Larissa Valiate é Bacharel e Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é Pesquisadora Bolsista pelo Programa de Capacitação Institucional/CNPq na Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tem experiência em Educação Museal e Divulgação Científica.
Larissa Valiate é Bacharel e Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é Pesquisadora Bolsista pelo Programa de Capacitação Institucional/CNPq na Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tem experiência em Educação Museal e Divulgação Científica.
 Cristiane de Oliveira Costa é Licenciada em Física e Mestre em Física e Matemática Aplicada. Tem experiência em Educação Formal e não-Formal.
Cristiane de Oliveira Costa é Licenciada em Física e Mestre em Física e Matemática Aplicada. Tem experiência em Educação Formal e não-Formal.
 Douglas Falcão é graduado em Licenciatura em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1987), Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutor em Educação pela University of Reading/UK (2006). É tecnologista sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins/MCTIC desde 1988, onde ocupou o cargo de Coordenador de Educação em Ciências entre 2005 e 2013. Foi Diretor do Departamento de Popularização e Difusão de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI) de 2013 a 2016. Atua em pós-graduações na área de popularização e divulgação de ciência. Tem experiência na área de Educação em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem em museus de CT, inclusão social e CT e na produção e avaliação de recursos educacionais em museus de CT. Presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC) entre 2019 e 2023.
Douglas Falcão é graduado em Licenciatura em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1987), Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutor em Educação pela University of Reading/UK (2006). É tecnologista sênior do Museu de Astronomia e Ciências Afins/MCTIC desde 1988, onde ocupou o cargo de Coordenador de Educação em Ciências entre 2005 e 2013. Foi Diretor do Departamento de Popularização e Difusão de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI) de 2013 a 2016. Atua em pós-graduações na área de popularização e divulgação de ciência. Tem experiência na área de Educação em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem em museus de CT, inclusão social e CT e na produção e avaliação de recursos educacionais em museus de CT. Presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC) entre 2019 e 2023.
Como citar este artigo:
SCOFANO, Ricardo Scofano; VALIATE, Larissa, COSTA, Cristiane de Oliveira; FALCÃO. Conexões, quebras e exposição à diferença: o trabalho da imprevisibilidade na integração entre o museu e a comunidade desde o projeto Nós no MAST. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, maio de 2024, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Frieda Maria Marti, Felipe Carvalho, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel