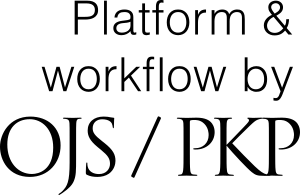Por uma analítica da “representação cisgênera”: Poder, subjetivação e as te(n)sões entre nojo e desejo
Autoria: Mariah Rafaela Silva[1]
Introdução, panorama e metodologia
Ano após ano o Brasil vem liderando estatísticas de assassinatos de pessoas transexuais e, de igual maneira, também vem liderando as estatísticas de consumo de material pornográfico com essa população. Diante desse fato, podemos nos perguntar se existiria na sociedade brasileira uma certa produção do desejo sendo estimulada e ao mesmo tempo reprimida. Mais do que isso, cabe indagar também que se esse consumo é majoritariamente realizado por pessoas cisgêneras, que estruturas de representação são acionas nos mais variados meios de comunicação para fazer com que essa tensão/tesão entre nojo e desejo se estabeleça como um elo fundamental que produz sujeitos?
Essas são duas perguntas chaves que busquei explorar ao longo da minha investigação de doutoramento defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense sob orientação da professora Doutora Paula Sibilia e que, mais tarde, resultou no meu mais recente livro, intitulado Zonas de te(n)são entre desejo e nojo: cisgeneridade como paradigma de subjetivação sexual, lançado pela editora Devires em 2023. Ao longo do livro, identifico que essa te(n)são na verdade faz ver e falar a cisgeneridade muito mais do que a transexualidade, visto que essa é inventada como uma espécie de alicerce pragmático do modelo institucional que produzem, por sua vez, sujeitos normais e anormais, cidadãos e não cidadãos, homens e animais, em suma, uma relação dicotômica que organiza o mundo.
Além disso, a análise dessa te(n)são me levou a proposição de dois dispositivos para melhor descrever as múltiplas relações de poder-saber que acionam e mantém os modos de representação da cisgeneridade como um “elemento” que ao anunciar o outro, insidiosamente se coloca como a norma; a propaganda cisgênera e o olhar cis. Ambos os dispositivos acionam máquinas semióticas como forma de regular os regimes de representação em suposto favor da cisgeneridade. Para tal, busquei cartografar em associação à investigação genealógica, uma série materiais audiovisuais, notícias de jornal, desenhos animados, revistas e outros produtos midiáticos em que comparecem pessoas transexuais, principalmente entre 1950 e 2021. Identificando, assim, de que maneira as transexualidades são investidas em um conjunto de práticas discursivas, imagéticas e cognitivas numa relação direta de exterioridade constitutiva a partir da cisgeneridade cujas práticas classificam e produzem a diferença.
Assim, esse pequeno ensaio tratará, portanto, de alguns aspectos desenvolvidos no livro com o objetivo de lançar luzes às formas pelas quais se operacionaliza a representação da cisgeneridade no seio social, em contraponto aos modos de brutalização das experiencias trans. Isso porque a cisgeneridade se faz ver e falar indiretamente, através dos modelos subjetivos negociados nas propagandas a partir da década de 1960, nas capas de revistas, no filmes, novelas e, substancialmente, nos mais diversos aparelhos e mecanismos políticos e institucionais.
O conceito de cisgeneridade
Começo defendendo que a cisgeneridade não pode ser meramente descrita como uma oposição direta à transexualidade ou, como dito popularmente, é cis quem não é trans[2]. A meu ver, a cisgeneridade dever ser percebida como uma chave analítica através das quais diferentes estruturas de representação, controle e poder ganham forma para ratificar seu caráter de aparente “normalidade”, em suma, a verdade de corpos certos, ideias. Olhar a cisgeneridade através desse ângulo nos permitiria entendê-la, primeiro, como um conceito científico e, segundo percebê-la em sua heterogeneidade. Explico!
Segundo nos conta Anne Finn Enke (2012) o termo cisgênero tem por base o prefixo latino “cis”, que significa “coisas que permanecem colocadas ou não alteram a propriedade” (Enke, 2012, p. 60)[3]. Contudo, sua origem no transfeminismo é creditada à bióloga Dana Leland Defosse[4], que o trouxe da biologia molecular para descrever os processos químicos que ocorrem em uma mesma molécula, ou seja, processos intramoleculares, para se referir a grupos orgânicos substituintes que se orientam na mesma direção (Borba, 2019). Segundo Anne Finn Enke (2012), ao usar essa expressão, Defosse teria enxergado o potencial do termo para descrever a condição de permanecer com o sexo atribuído ao nascimento, ou a congruência entre sexo atribuído ao nascimento e a identidade de gênero. Dessa maneira, ao manter-se dentro de certos parâmetros de gênero (quaisquer que sejam definidos) em vez de cruzar (transi-tar) esses parâmetros” (A. Finn Enke, 2012, p. 61)[5] tornaria da cisgeneridade uma “substância” relativamente estável, congruente e passível de continuidade às conformações do registro do sexo ao nascimento.
Embora essa noção seja importante para categorizar as origens do conceito de cisgeneridade e suas características de substância, ela não é suficiente para descrever sua heterogeneidade, uma vez que as pessoas “experimentam” a cisgeneridade a partir de nuances assimétricas de poder, sociabilidade e, acima de tudo, políticas. Esta perspectiva crítica torna viável a compreensão do caráter de “invenção” e “governamenta(bi)lidade” que busquei associar à cisgeneridade em meu mais recente livro[6], um esforço crítico-teórico iniciado ainda durante as pesquisas para meu curso de mestrado. Isso porque, conforme venho defendendo, a cisgeneridade para manter sua aparência de substância compõe agenciamento com a branquidade fazendo com que pessoas negras, pobres, periféricas e deficientes a acessem do modo diferente ou drasticamente assimétrico[7]. Tal assimetria anátomo-subjetiva diz respeito tanto à herança colonial brasileira – que inventou pessoas negras e indígenas como, em geral, figuras monstruosas, demoníacas, criminosas e sem alma numa acepção ao especismo socialmente vigente por séculos – e às dinâmicas bionecropolíticas (LIMA, 2018) que organizam e mantém diagramas de poder na ordem social entre sujeito e não sujeitos.
Assim, cobrar o caráter de invenção da cisgeneridade implica em reposicionar esse conceito dentro de um conjunto de relação de saber e poder que nos permite perceber os mecanismos através dos quais a cisgeneridade deixa de ser entendida como uma mera política identitária e passa a ser percebida como um dispositivo de poder que teria como base os postulados de naturalidade, verdade, idealidade, universalidade, normalidade e “reprodutibilidade”. Dessa forma, refraseando a Antropóloga Fátima Lima (2014) ao enunciar o caráter de invenção da transexualidade, podemos categorizar a invenção da cisgeneridade dentro de um jogo dinâmico de poder social, uma vez que dizer que as cisgeneridades[8] foram inventadas
é diferente de dizer que não existiam. Dizer que foram inventadas é perceber como, quando e de quais maneiras esta forma de subjetividade passa a constituir um elemento importante tanto do ponto de vista discursivo quanto do ponto das práticas sociais, ganhando sentidos em determinados regimes de verdade (LIMA, 2014, p. 70).
Em outras palavras, a cisgeneridade não é apenas o movimento entre estabilidade, coerência e continuidade entre sexo e gênero, mas mantém uma relação direta com estruturas de normalização do corpo que dependem de uma aparente naturalidade como regra biológica, anatômica, social e política. Por outro lado, evocar a noção de governamenta(bi)lidade para descrever a cisgeneridade diz respeito à maneira pela qual as estruturas político-semióticas na sociedade se organizam em torno da noção de um corpo normal, verdadeiro, reprodutível, em suma, paradigmático de “corpos inteiros ou completos”. Meu argumento decorre da análise dos modos de funcionamento das institucionalidades que tornam, reconhecem e ratificam o status de “sujeito” dentro das sociedades ocidentais, visto que a noção de governamentabilidade como chave analítica me permitiu observar os mecanismos através dos quais se coloca um conjunto de relações de poder com o objetivo de “confiscar’ os modos de produção de verdade – principalmente sobre a política corporal - e as pragmáticas existenciais na sociedade que organizam o gênero e os modos de produção coletiva da sexualidade. Sendo ao mesmo tempo, portanto, uma espécie de política binária (por isso o termo governametabilidade) de gestão e controle do corpo, do gênero e da sociedade. O conceito decorre do pensamento foucaultiano acerca da governamentalidade.
Assim, defendi que esse conceito pode oferecer pistas valiosas para se pensar uma arte de governar corpos e mentalidades que poderiam fazer da cisgeneridade não apenas um princípio de “verdade” sobre os corpos (e, certamente, o gênero), mas, sobretudo, a formação ou invenção de uma categoria de indivíduos que “define antes um conjunto de coisas e de relações que, como quer que seja, devem se impor à política” (Foucault, 2014, p. 15). Não são propriamente esses indivíduos que definiriam, a rigor, essa “arte de governar”, mas, ao contrário, esses indivíduos “normais” seriam produzidos no interior de conjunto objetivo de “verdades” necessárias à manutenção das próprias formas de governo (individual e coletivo) e dos modos de subjetivação vigentes. Desta forma, proponho, acompanhando Foucault (2014), que esse princípio ou modo de produção de indivíduos
adequados” para essa forma de gestão política da vida em sociedade, trata-se de um exercício de poder que é racionalizado como arte de governar e que essa arte de governar deu lugar [a], ou se apoiou em certo número de conhecimentos objetivos que são os conhecimentos da economia política, da sociedade, da demografia, de toda uma série de processos [semióticos e de subjetivação] (Foucault, 2014, p. 9, grifo meu).
Essa perspectiva me parece também adequada para defender o caráter científico da cisgeneridade, contrapondo alguns estudiosos dos chamados “estudos queer” no Brasil que vem defendendo que o conceito de cisgeneridade não está amparado no escrutínio do saber intelectual, não encontrando, portanto, suficiente rigor teórico-metodológico. Como defendi acima e em meu livro, essa afirmação é falaciosa visto que ao evocar a cisgeneridade como uma chave-analítica podemos compreender as nuances e dinâmicas que a tornam paradigmática dentro de um conjunto de enunciações político-subjetivas em nossa sociedade.
Por fim, é importante também mencionar que perspectiva nos permite compreender a relação de exterioridade constitutiva entre a cisgeneridade e a transexualidade, uma vez que cisgeneridade (através de seus mecanismos institucionais), ao refletir um “estado” hegemônico do corpo, ou seja, aquilo que constituiu uma aparente marca inteligível entre alma, natureza e reprodução, se “apropriou” do poder de dar nome às coisas, de fazer ver e falar corpos e gêneros alheios, através de uma dimensão autoritária da enunciação das mais variadas formas de linguagem que submete o outro a uma dimensão de outridade, inventando a diferença e o avesso desta. Esse lugar de privilégio que traz em si, como marca indelével, a verdade do sexo, a verdade do gênero e a verdade do corpo, contribuiu, na história da colonialidade, para os horríveis sistemas de exclusão, fazendo que a cisgeneridade seja enunciada de modo insidioso, inaudito, “discreta” e politicamente visível. Esse aspecto de propagar seus “princípios” e características eu chamo em meu livro de propaganda cisgênera.
O conceito de propaganda cisgênera
(representação/ cisgeneridade transparente)
Inicialmente, seria preciso propor uma definição geral do que eu chamo em meu livro de “propaganda cisgeneridade”; com isso quero lançar luzes sobre o meio pelo qual a cisgeneridade tem sido promovida, reiterada e mantida através de aparatos midiáticos que regulam as normas de representação de um certo corpo idealizado, congruente, inteligível. Um dos efeitos primordiais desse dispositivo é a naturalização de corpos cisgênero como se fossem dados naturais, pré-discursivos, algo que antecederia a cultura a ponto de deixa-los “transparentes” ao campo de visão na mesma medida em que os deixam flagrantemente visíveis.
Essa definição geral nos ajudar a noção de corpos visíveis a qual venho desenvolvendo em minhas pesquisas, visto que corpos visíveis, em certo sentido, são aqueles que agenciam estratégias de “aparecimento” nos meios de comunicação, em geral, sem sofrerem represálias e/ou interdições. Além disso, são aqueles que são visíveis ao modelo de gestão social como, por exemplo, acesso à direitos, justiça e cidadania. São, portanto, aqueles corpos que vemos cotidianamente ser promovidos em revistas, telenovelas, filmes, publicidades e telejornais como “normais”, “saudáveis” e “seminais” a ponto de sua imagem mental estar ser automatizada. Ou seja, trata-se de corpos aceitos como normais no sistema hegemônico de representação, em conformidade com os padrões e os costumes morais vigentes e, por conta disso, desejáveis.
Esse tipo de promoção de corpos saudáveis e seminais não é necessariamente novo na história recente da humanidade. Entretanto, ganha contornos específicos a partir da década de 1950 com o advento da TV e as dinâmicas políticas do pós-guerra onde há um borramento entre as noções de público e privado através de programas como a Mansão Playboy (PRECIADO, 2020), e as propagandas comerciais com slogans em massa do nacionalismo e patriotismo que, no Brasil, ganham destaque sobretudo a partir da ditadura militar de 1964. Trata-se de propagandas que “vendem” tanto um modelo subjetivo, quanto um tipo de corpo, raça, gênero, sexualidade e família ideais. Em outras palavras, trata-se da produção massiva de enunciados[9] que fornecem pistas uteis à cartografia da visibilidade cultivada e propagada como regra nos meios de comunicação em massa no Brasil. Ao mesmo tempo em que promovem insidiosamente o que é “normal”, divino, belo e moralmente aceito para a sociedade patriarcal; estereotipam, classificam, monstrualizam, demonizam e criminalizam aquilo que passa, portanto, a ser compreendido como anormal, o avesso do ideal, o resto do humano. Ou seja, corpos travestis e transexuais e toda uma ordem de seres do abismo incapazes de alcançar o status de humanos frente as ferramentas de codificação midiáticas vigentes à época.
Corpos sub-humanos não produzem e não têm famílias, não podem comercializar a margarina, o leite em pó ou condensado, a máquina de lavar ou de costurar[10] mas podem exemplificar o fracasso, servem como paradigma que exibição espetacular da violência e do tipo de punição ao qual são passíveis se infringirem as regras de gênero, na medida em esses corpos passam a estampar, portanto, as páginas policiais e as narrativas criminológicas e patológicas que contribuíram para alimentar o imaginário social coletivo de que esse corpos são espoliáveis descartáveis e, por fim, matáveis.
As regras do jogo eram claras/brancas, literalmente, e visavam administrar os modos de visualidade que serviriam para construir um ideal de nação, ou melhor, nacionalizar “verdadeiros valores do Brasil” (Netto, 2016, p. 244), recorrendo às instituições tipicamente modernas (casamento, família, escola, igreja etc.) com o objetivo de alavancar uma estratégia psicossocial que desse conta de um projeto de poder cujas ferramentas inferissem os valores almejados para o paradigma civilizatório que se pretendia. É importante destacar, por fim, que as regras de “aparecimento” não eram apenas políticas ou culturais, mas também juridicamente definidas no escopo do decreto-lei 1.077 de 26 de janeiro de 1970[11] que, em linhas gerais, estabelecia em seu artigo primeiro que “não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação”. Dessa forma, a propaganda cisgênera entra nas casas, nas fábricas, nas empresas, nas repartições publicas e nas mentes dos cidadãos negociando muito mais que apenas saúde, entretenimento ou bens consumíveis, mas um paradigma de verdade, de família, de felicidade, de feminilidade, de sexualidade etc., tanto quanto um modelo de gestão dos corpos que tem na imagem do indivíduo cisgênero, branco, heterossexual e bem-sucedido financeiramente seu apogeu.
O conceito de olhar cis
(dispositivo cognitivo)
Se a propaganda cisgênera é um dispositivo midiático espetacular que estratifica e segmenta a imagética humana (e “desumana”), o olhar cis é um dispositivo cognitivo cuja finalidade é domínio sob a percepção e os sentidos. Tomando como ponto de partida as reflexões Laura Mulvey (1999) sobre o olhar masculino, em seu célebre ensaio Visual pleasure and narrative cinema, publicado originalmente em 1975, busco demonstrar a maneira pela qual esse dispositivo se configura como uma dinâmica biopolítica, onde o poder toma o aparelho da visão (e dos demais sentidos) com a finalidade de fundir o ponto de vista do espectador com os interesses da cultura cisheteropatriarcal vigente nas sociedades ocidentais, tornando-se um só e mesma coisa.
Em suas análises, Mulvey (1999) demonstrou que o “olhar o masculino” é fruto da intersecção entre o desejo de ver (escopofilia) e a própria política de visualidade esboçada pelo cinema narrativo. Ao se reiterar e repetir, essas dinâmicas arquitetam modos de ver que partem do pressuposto de que a mulher corresponderia a uma passividade permissiva, ou seja, seu corpo-imagem é produzido como objetivo para o escrutínio masculino (voyerismo). Em linhas gerais, a equação que Laura Mulvey apresenta basicamente consiste no fato de que, na estrutura narrativa do cinema clássico, o homem e o olhar se fundem fazendo do homem o próprio olhar. Ou seja, ele é quem executa não apenas a ação de olhar, mas aquele que codifica os processos do ver, olhar e significar, restando à mulher apenas a condição da imagem a ser vista, em última instância desejada, objetificada numa espécie de positivismo biopolítico.
Mas isso só é possível através das dinâmicas de poder que afetam os sentidos; não basta apenas ver, é preciso que aconteça um certo tipo de agenciamento que “capture” as linhas de desejo dentro de um emaranhado de construções discursivas que mais do que prender a atenção do sujeito, o produz.
Para essa conclusão, meu esforço foi de convocar a esse debate a socióloga indiana Avtar Brah. Em um dos capítulos de seu livro Cartografias da diáspora (1996), a autora alerta para o fato de que as imagens visuais são também constituídas por práticas e, desta forma, produzem poder. Brah tem como referência a ideia foucaultiana de que discurso é prática. Para ela, as imagens são importantes elementos de uma ou múltiplas formações discursivas e esta seria a razão pela qual o exercício do poder se prolifera, se amplia e também sofre resistências, fazendo com que o poder seja, na verdade, constituído “performativamente em práticas econômicas, políticas e culturais, e através delas” (Brah, 1996, p. 125). É dessa maneira que a autora chama a atenção para o fato que se torna fundamental entender os movimentos do poder nas tecnologias do olho, entre elas as práticas de cinema, tendo em vista que tais movimentos, no escopo performativo do poder, são preponderantes para a constituição de subjetividades. Isso na medida em que, diz ela, “as subjetividades de dominantes e dominados são produzidas nos interstícios desses múltiplos lugares de poder que se intersectam” (idem).
Surge daí, portanto, as bases teóricas do conceito de olhar cis que proponho, visto que corpos e experiências trans, que “renunciam” ou “negam” o lugar de dominação ou submissão impostas por tal “positivismo biopolítico” nas tecnologias do olho – e, por extensão, dos sentidos, passariam a ocupar uma dimensão narrativa desarranjadamente caótica, humilhante e arbitrária. É no âmbito desse esforço de reorientação do olhar masculino que o olhar cis entra em cena, assumindo um protagonismo fundamental para os processos de narrativas e invenção do Outro.
Com a apresentação do conceito de “olhar cis” pretendo informar as estratégias de organização e reorientação biopolítica da cisgeneridade. De fato, os movimentos performativos do poder na ação de ver são acionados para construir ou realinhar as narrativas audiovisuais que foram pautadas por pressupostos moralizantes, essencialistas e normativos. Estes movimentos definem dinâmicas que extrapolam o espaço e a duração das imagens cinematográficas, construindo um novo tipo de estratégia de subjetivação coletiva que codifica e orienta todo um conjunto de ações que não apenas adjetivam, mas em larga medida são fundamentais para categorização, classificação, exotificação, demonização e desumanização das transexualidades. Basicamente, a diferença entre o olhar masculino, proposto por Mulvey (1999), e o olhar cis é seu caráter pragmático que conjugar corpos e regras, viabilizando – literalmente – o mundo.
Além disso, para inventar sujeitos é necessário o acionamento de ferramentas semióticos que fazem ver e falar o outro a partir daquilo que o difere, o torna menos ou mais do que aquilo que se vê ou se toca. Desta forma, propus – a partir de um exame de novelas, filmes, reality shows, minisséries, desenhos animados, manchetes de jornais e programas de auditório – dez tipos gerais de codificação visual-narrativa aos quais normalmente corpos e experiencias trans são representados; os “nichos da aberração”[12] ou, em outras palavras, o processo pelo qual os estereótipos se materializam na superfície e nas estranhas das imagens e fomentam dinâmicas necropolíticas que constroem os modos pelos quais pessoas trans são faladas, vistas e, dessubjetivadas.
Conforme demonstrei em meu livro, esses nichos ou códigos semióticos buscam automatizar a percepção e controlar as experiências dos sujeitos, num ciclo que retroalimentam dinâmicas binárias na te(n)são entre nojo e desejo, curiosidade e aversão, riso e sarcasmo, crime e castigo. Além disso, por fim, tais códigos mais do que apenas falar sobre as transexualidades, enunciam o lugar primordial e paradigmático da cisgeneridade como um princípio messiânico frente os flashes de imagens distorcidas das experiências trans.
A te(n)são entre nojo e desejo
Esse conjunto de códigos e seus múltiplos meios de representação contribuem para o fomento no imaginário social coletivo de que pessoas trans são seres biopolíticamente fraturados, incompletos para seres sujeitos. Mais do que isso; definem a rigor os códigos de ameaças e as classes de risco (SILVA, 2021) que servirão como subterfúgio inconsciente da violência estrutural e intersubjetiva contra pessoas trans. Da mídia hegemônica às mais variadas camadas de representação pornográfica, as transexualidades são tomadas por uma ratio inimicus (uma espécie de razão da inimizade pela indiferença e desprezo de gênero e raça) que alimenta e mantém as mais diversas estruturas sociais de reconhecimento do outro.
Quanto mais radicalmente distante da norma um sujeito é, maior será as dinâmicas do horror. Esse talvez seja o elemento que explicaria os dados da ANTRA que demonstram que entre 2017 e 2021 – período de recorte que realizei para essa análise – 80,6% das pessoas trans assassinadas no Brasil eram negras e racializadas. Esses dados só podem ser analisados tendo como prerrogativa a intersecção entre racismo e transfobia na produção entre desejo e nojo, visto que a maior parte das vítimas foram mortas durante o exercício da prostituição. A esse entroncamento dou o nome de racismo transgenderizado, ou seja, uma relação de perfilamento gênero-racial que encontra nos corpos e subjetividades trans um lugar ideal para a inflexão de poderes de subjugação, precificação, objetificação e aniquilação, produzindo uma máquina ficcional do genital que tem por motor um dispositivo de cariz gênero-racial que tornando equivalentes (e fazendo confluir) racismo e transfobia. Tornada inimiga da norma e do costume, a travesti negra constitui, por fim, o amálgama entre “horror” do desejo e a abjeção, algo que poderíamos definir como uma “abjetofilia”: eu te fodo (ou sou fodido por você), mas depois eu te mato em nome da honra, da moral e dos bons costumes!
A experiência da pandemia reforçou uma serie de marcadores sociais da diferença (e da exclusão) que empurrou ainda mais para o limbo corpos de pessoas trans negras que sem família, documentos ou redes de apoio governamentais se viram forçadas a proceder a manutenção do trabalho sexual frente ao crescimento desenfreados dos números de contaminação pela vírus da COVID-19 (SILVA, 2021), e mesmo em um período em que se imaginou que os índices de assassinatos de pessoas trans diminuiria, nas verdade mantiveram estáveis com algumas altas, conforme publicizado pela ANTRA (2022). Por outro lado, o consumo com pornografia trans continuou em alta. Na verdade, vinha de um crescimento linear entre 2017 e 2021, a exceção é o ano de 2020, primeiro ano de pandemia, onde plataformas como PornHub não publicou dados. Com esses dados, dados de audiência e perfil de consumo no Google Trends e os dados da ANTRA, pude realizar um cruzamento das informações e a constatação foi de que há uma tendência “proativa” entre os estados onde mais se registrou assassinatos de pessoas trans e o consumo de pornografia relativa a esse público.
Quando esses dados são comparados uns com os outros sob a lente dos códigos semióticos postos em cena pelo Olhar cis e as políticas de representação da propaganda cisgênera, que produz roupagens subjetivas, temos a construção de um sentimento de desprezo pragmaticamente contínuo que mantem as estruturas que objetificam e buscam eliminar preferencialmente corpas e sujeitas trans negras e racializadas, ou seja, produzem te(n)sões entre desejo e nojo e assim manutenciam as estruturas coloniais que formam a sociedade brasileira.
______________
[1] Professora Visitante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará (PPGD/UFPA). Doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: mariah.rafaela.silva@gmail.com
[2] O termo trans aqui é utilizado como guarda-chuva compreendo a não-binaridade e outras expressões de gênero que negam a norma.
[3] Tradução livre.
[4] Segundo Rodrigo Borba (2019) e Anne Finn Enke (2012), Defosse teria utilizado o então neologismo em um fórum online sobre subjetividades trans em 1994.
[5] Tradução livre do texto de Enke (2012: 61) “now, in common usage, cisgender implies staying within certain parameters (how they may be defined) rather than crossing or (trans-ing) those parameters”.
[6] O livro intitulado Zonas de te(n)são entre desejo e nojo: cisgeneridade como paradigma de subjetivação sexual, lançado pela editora Devires em 2023, é fruto da minha tese de doutorado homônima defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense sob orientação da professora Doutora Paula Sibilia.
[7] Com isso não estou dizendo que ser negro ou indígena é uma condição para não-cisgeneridade, mas, a partir da perspectiva interseccional, reafirmando que essas pessoas não experimentam a cisgeneridade a partir dos mesmos critérios de privilégio e percepção social que pessoas brancas, heterossexuais e das classes mais abastadas experimentam.
[8] O termo no plural remete, portanto, a característica heterogênea da cisgeneridade ou, dito de outro modo, remete às múltiplas formas de ser e experimentar a cisgeneridade.
[9] No interior desses enunciados, encontra-se a fabulação de um conjunto de valores sobre a defesa da “moral e dos bons costumes” que passaram a administrar os regimes de visibilidade até o início do século XXI. Como enunciado eu não quero dizer apenas a produção de visibilidade propriamente dita, mas todo um conjunto de codificação semiótica que produz, efetua e materializa sentidos.
[10] Em meu livro eu faço uma extensa análise de propagandas veiculadas entre as décadas 1950 e 1970 no Brasil, sobretudo do Leite Ninho, Leite Condensado Moça, da Máquina de lavar Westinghouse, Creme de Leite Nestlé e outras para exemplificar o tipo de patrulha moral que contribuiu para promover a cisgeneridade e sacramentar seu status quo midiático.
[11] Decreto da Casa Civil, nº 1.077 de 26 de janeiro de 1970. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1077.htm
[12] São eles o ideal de beleza e a construção do ódio-próprio; o do cômico e da piada; o do grotesco como política do agressivo e do monstruoso; o dos criminosos, psicopatas e “serial killers”; o dos libertinos, pervertidos e estupradores; o da gestão da mentira (os enganadores e falsários); o dos eunucos e da destituição do prazer; o dos seres demoníacos e doentes; o dos seres matáveis e suas lógicas depositárias da violência e, por fim, o dos transfakes como princípio de representação geral.
Referências
Benevides, B. Dossiê dos assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2021. Brasília: Distrito Drag; ANTRA, 2022
Brah, A. Cartographies of Diaspora: contesting identities. London and New York: Routledge, 1996.
Enke, A. F. The education of little cis: cisgender and the discipline of opposing bodies. Em A. Enke, Transfeminist Perspectives: in and beyond Transgender and Gender Studies (pp. 60 - 77). Philadelphia: Temple University Press, 2012.
Foucault, M. Do governo dos vivos: curso no Collège de France (1979-1980). São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.
Mulvey, L. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Em L. Braudy, & M. Cohen, Film Theory and Criticism: Introductory Readings (pp. 833- 844). New York: Oxford UP, 1999.
Netto, D. A. Consumo e conservadorismo: uma análise da propaganda brasileira durante a ditadura militar. História e Cultura, 5(nº 3), pp. 243 – 266, 2016.
Silva, M. R. Código da ameaça: trans/ Classe de risco: preta: ciscolonialidade e risco biológico em tempos de Covid-19. Em P. P. Pelbart, Pandemia crítica: inverno 2020. São Paulo: n-1 edições, 2021.
Silva, M. R. Zonas de Te(n)são entre desejo e nojo: cisgeneridade como paradigma de subjetivação sexual. Salvador: Devires, 2023.
Sobre autoria:

Mariah Rafaela Silva é doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, formada em História da Arte pela universidade federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em História, Teoria e Crítica da Cultura, pela Universidade do Estado do Amazonas. Foi professora do Departamento de História e Teoria da Arte da UFRJ e intercambista na Universidade Nova de Lisboa, onde estudou gênero, migração e globalização. Atualmente Mariah é professora visitante no Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do Pará. Mariah também é ativista dos direitos humanos e colaboradora como oficial para participação política no Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos.
Como citar este artigo:
SILVA, Mariah Rafaela. Por uma analítica da “representação cisgênera”:Poder, subjetivação e as te(n)sões entre nojo e desejo. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, janeiro de 2024, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Sara Wagner York, Felipe Carvalho, Edméa Santos, Marcos Vinícius Dias de Menezes e Mariano Pimentel