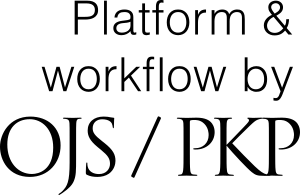Racismo, mulheres e nossas perdas diárias

Por Aline Martins
Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação ProPEd/UERJ - Linha Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais. Membra do Grupo de Estudos em Gênero, Sexualidade e(m) Interseccionalidades na Educação e(m) Saúde (Geni) coordenado pelo professor Fernando Pocahy. Professora de sociologia (Seeduc)
“Raiva é cheia de informação e energia.” Audre Lorde
Venho me debruçando na reflexão sobre o sofrimento que o racismo traz a todo povo negro. Sabemos que muitos intelectuais brancos por anos e mais anos descreveram sobre o sofrimento da escravidão – tendo a acreditar que para nós pessoas negras, esses trabalhos ressoam como uma espécie de revisitação sádica do nosso sofrimento.
O exercício que trago aqui, neste espaço de escrita é sobre quando corpos que representam a imagem do opressor são os porta-vozes do discurso do oprimido e trazem a reflexão para falar ao/ sobre o oprimido e, por muitas vezes dando ‘justificava’ econômicas ou históricas ao ato de ferir, colonizar, matar, explorar os nossos corpos e impactar sobre nossas subjetividades.
O que escrevo aqui, são as escolhas de relatos das nossas dores, como nossos corpos, de pessoas pretas são afetados e foram afetados por violência de desdobramento do racismo.
Tocar na dor, reviver processos traumáticos é sempre complicado, tenso e obviamente dolorido. Há de se respeitar o direito do silenciamento, da reconstrução de nossos discursos sobre nós para nós é importante trazer a forma correta de contar nossa história - que não sejam marcadas pelo desejo de destruição e exploração do outro. Mas, também é preciso repetir, colocar as fraquezas que nos afetam, a nós que sofremos cabe a escolha– Tanto do choro engolido ao fardo que precisamos compartilhar com os nossos afetos. Também é preciso expressar a raiva. Como Audre Lord coloca, a necessidade e expressão da raiva, ela é construtiva. Apresentou em junho de 1981, na conferência da Associação Nacional de Estudos de Mulheres, em Storrs, Connecticut. Usos da raiva: mulheres respondendo ao racismo,
“As mulheres respondem ao racismo. Minha resposta ao racismo é raiva. Eu vivi boa parte da minha vida com essa raiva, ignorando-a, me alimentando dela, aprendendo a usar antes que jogasse minhas visões no lixo. Uma vez fiz isso em silêncio, com medo do peso. Meu medo da raiva não me ensinou nada. O seu medo dessa raiva também não vai te ensinar nada.”Este lugar de fala que tanto falamos de reflexão não é um lugar terapêutico, poderia ser, mas sim um lugar de sujeito – não é um lugar simbólico e sim um lugar merecedor de existência. Essa existência que (é) ameaçada quando não pode ser porta-voz da própria história. Além do direito de tecer a própria história em primeira pessoa é preciso respeitar as nossas várias estratégias para lidar com as dores provocadas suscitadas pela tentativa constate de dominação, porque o que tratamos aqui é o rompimento de múltiplas formas de dominação e uma forma eficaz de dominação é pela linguagem, pela construção de narrativas e pela legitimação destas.
Poder sentir a raiva é um direito (narrativa) para quem tem seus desejos reprimidos historicamente, sempre bom explicar que sentir a raiva para Audre Lord traz a potência do movimento, na resistência e na indignação – quando falamos de raiva, não falamos do poder do ódio, esse sim, é avassalador e tem o poder paralisam, a raiva vem do incomodo e não fica apenas nela movimento corpo, transpõe e ele a partir da indignação. Trago a raiva como uma narrativa que se movimenta, que nos une por um objetivo comum.
A raiva é um direito aos e (dos) grupos de pessoas violentadas por serem tratados como subalternos e terem uma humanidade questionada – pelo processo de inúmeras tentativas, mal sucedidas, de extermínio, da tentativa de supressão da potencialidade, da existência como epistemologia que não sejam colonialistas.
A raiva, aqui, nada mais é do que o reflexo da dor, não o único. A população preta convive com perdas traumáticas provocadas pelo sistema colonial e racista – Tanto expressão da raiva e a dor são emergências para lidar com dias traumáticos, mas que apresento aqui, não é a fala eliminar a dor de forma sádica e narcísica (até porque acredito que essa forma não ajuda a superar dores). O processo da violência colonial, muitas vezes é apresentada na dicotomia entre brancos vitoriosos/ conquistador e negros/ derrotadores/ escravizados ou brancos entendemos o nosso processo abusivo, colonial – mas como pesquisadores distanciados das relações estamos prontos a produzir ciência a partir do distanciamento - essas forma de fala (produzidas argumentativamente) a resultados de relações abusivas pela relação racista desconsideram o valor da inquietação e da raiva como gerador de possibilidade de produzir vida e se manter fisicamente e epistemologicamente.
O direito de falar das dores, é prioritariamente é de quem sofre, mas não somente! quem machuca, quem nasce com algum privilégio numa sociedade tão desigual precisa ter diálogo e é sobre isso que esse pequeno texto propõe. O enfrentamento e a legitimação da dor do sujeito que sofre me parecem importante. Corpos pretos além de ser sujeitos políticos precisam ser vistos como Sujeitos políticos.
Ser Sujeitos não significa falar e produzir saberes sozinho, mas para todos que desejam ser aliados e partir para um diálogo, entendo o discurso de quem vivencia qualquer processo é o SUJEITO. É bom lembrar que falar sozinho é dolorido, não é produtivo, mas o lugar que brancos devem entender é “dialogar a partir de”, eliminando as dicotomias e a polarização: Sujeito x objeto/Quem fala x quem não fala.
Quando começo a falar, a minha fala é um diálogo ou uma imposição? Julgo a dor alheia? ou trago um discurso de entendimento para haver desconstrução? Abrir mão do lugar narcisista é realmente uma escolha abstrusa para quem só se vê refletido em tudo e o tempo todo.
Quando tocamos em nossas falas na ideia do outro e daquele/a que é tornado/ marcado/ como diferente construía pelo privilégio daqueles que o privilégio de marcar o que consideram o outro/a ‘diferente’ da forma na maioria das vezes hierárquicas pontamos uma inexistência da alteridade. Quando Grada Kilomba fala da importância de lembrar o passado para compreender o presente: “(...) o racismo cotidiano incorpora uma cronologia que é atemporal” (2020, p. 29). Me atendo à sociedade que vivo. Nós pessoas pretas (e entendo que indígenas e sujeitos de dissidências sexuais e de gênero não tivemos direito aos nossos lutos, nossos rituais de perdas e a nossa história foi apagada e recontada pelo mesmos que criticam o nosso direito de raiva e luto hoje.
Quem perde afetos e quem vive a imagem sendo violentada, sufocada, vendo as mortes dos seus, o não direito preto consumir, afinal, até dentro dos supermercados, lugar de consumo do básico para sobrevivência somos mortos. Vejamos os últimos acontecimentos publicitados: um homem preto morto num supermercado em Porto Alegre foi comoção nacional, mas para muitas pessoas o que causou mais escândalo foi o fato de algumas pessoas terem ateado fogo em algumas prateleiras de uma rede internacional, com seguro
O que causa tristeza, mas não surpreende foi a solidariedade com a propriedade privada e a crítica das manifestações realizada pelo movimento de pessoas pretas que ali estavam. Independentemente, de achar que deve ou não deve colocar fogo em lugares que não tem nenhuma pena em matar corpos como o meu. E inexplicável a procura e a condenação da ação de um grupo social (que) vem morrendo da mesma forma.
O pânico da frase: “fogo nos racistas” não se justifica já que quem mais morre de diversas formas são pessoas negras. Não vejo nenhum racista queimado e nem preso no Brasil, até hoje, mesmo quando filmado matando (ou ofendendo) um corpo preto. A prisão e a morte se destinam em sua maioria aos corpos aos negros e lgbtqis+ - não aos corpos privilegiados, portanto, o medo não deveria ser da frase e sim do racismo, necropolítica cotidiana.
Nós mulheres, por exemplo - para o sistema branco patriarcal - precisamos ter corpos dóceis e falas conciliatórias para sermos suportadas nos espaços, tanto público como no privado. As mulheres negras e mulheres trans precisam se esforçar muito mais do que as mulheres brancas para não serem eliminadas nos espaços, silenciadas na sua existência ou mesmo vistas como objetos a serem constantemente analisadas e questionadas.
A conciliação sempre foi uma estratégia de sobrevivência nossa, sobretudo, por muitas vezes geradora de dores pelo silenciamento. Romper, gritar e transparecer a raiva pode ser uma forma eficaz de produzir saberes.
Quem precisa conciliar é quem sempre agrediu. Reações e sentimentos humanos precisam ser entendidas e respeitadas nos corpos pretos, o direito à fragilidade, à raiva e de poder expressar a dor – Tais pontos levantados são importante para reconstrução de nossa história, precisamos elaborar nossas pautas e o outro precisa dialogar, não apenas ouvir, não apenas nos silenciar. É muito difícil não estar no comando, logo é difícil abrir mão de privilégios.
É preciso abrir mão do comando, no narcisismo argumentativo, da razão e da racionalização de (só) um lado do argumento, feito por algumas pessoas brancas que assumiram posições diante do episódio.
A existência dos corpos pretos como imagem viva e que são corpos que sentem, sentem amor, mas também sentem raiva, ao sentir a indignação ativa é visto como violência. Não aceitar a legitimidade do sentir e ter essa recusa, é assumir uma postura racista e patriarcal. A recusa do protagonismo argumentativo e do sentir é violenta por si.
Provoco aqui que o sentimento que move nossos corpos que nos fez existir até hoje foi a Raiva gerada pela dor. Nossa raiva vem de longe. Vem de Zumbi, Luiz Gama, Dandara, Marielle e outros que antecederam a nós.
A gente precisa da dor e da raiva
Do choro e da luta
Do direito a dor e precisamos ser aparados. Isso é aliança e construção do diálogo
Referencias:
KILOMBA, G. Memórias da plantação. Rio de Janeiro, Cobogó, 2019.
LORD, Audre. “The Transfomation of Silence into Language and Action”.In. Sister Outsider. 1984, The Crossing Press Feminist Series.
__________________________________
Como citar este artigo:
MARTINS, Aline. Racismo, mulheres e nossas perdas diárias. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, janeiro de 2021, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: <>. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias: Felipe Carvalho, Mariano Pimentel e Edméa Oliveira dos Santos