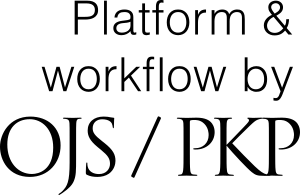Desaprendendo a Univer(cis)dade: A Ação da Rede Trans UERJ
 Por Angie de Lima Santos Barbosa
Por Angie de Lima Santos BarbosaÉ travesti, graduanda em p(cis)cologia, integrante da Rede Trans UERJ e jovem pesquisadora transfeminista. Trabalha com o coletivo autônomo radical Bibliopreta com tradução, pesquisa, e produção de formações transfeministas e antirracistas.
 Por Lori Araújo Delarue dos Santos
Por Lori Araújo Delarue dos SantosÉ uma pessoa não-binária agênero e integrante da Rede Trans UERJ. Além de graduanda em p(cis)cologia na UERJ, é escritora independente de histórias com representatividade LGBTQIAP+ sob o pseudônimo L. Amethista e tem interesse em pesquisar relações de gênero e sexualidade na psicologia..
Desde que a cruel realidade de exclusão da população trans-travesti das instituições de ensino se tornou um debate público de crescente visibilidade e relevância, a inclusão se tornou parte do nosso vocabulário político. Os discursos dominantes de inclusão e diversidade nos espaços acadêmicos, no entanto, raramente se propõem a questionar as lógicas fundamentais de agressão sistêmica das instituições que nos incluem. Dessa forma, os corpos de pessoas trans e travestis universitárias, doutoras e docentes se tornam “telas sobre as quais o mito da meritocracia se projeta” (SPADE, 2010, p. 80). Muito se pode dizer sobre o que a univer(cis)dade tem a oferecer para as pessoas trans e travestis. A partir das conquistas como as de Luma Andrade, primeira travesti no Brasil a se tornar doutora em 2012 (apenas em 2012!), das muitas travestis docentes e educadoras como Megg Rayara Gomes, Sara Wagner York, Jaqueline Gomes de Jesus, Isadora Ravena, Dani Balbi, entre outras; do doutorado honoris causa de João Nery em 2018 (UFMT) e de Keila Simpson em 2022 (UERJ), e o doutorado de Vicente Tchalian, o primeiro homem trans a conquistar o título em 2021 (curiosamente, também na UFMT), a univer(cis)dade pode reconhecer que as pessoas trans-travestis têm muito a ensinar. A mensagem dos movimentos sociais é clara: temos muito a ensinar, mas nada sobre nós será feito sem nós. (YORK, OLIVEIRA & BENEVIDES, 2020). Não podemos desacreditar o interesse genuíno da univer(cis)dade de aprender conosco e sobre nós. No entanto, o desejo — ainda mais importante! — de desaprender as próprias lógicas de poder e violência ainda não parece fazer parte desses projetos de inclusão.
Descrevendo a sua experiência como um professor universitário trans, Dean Spade expõe três mensagens centrais da socialização profissional e acadêmica de minorias:
Um, pessoas com identidades marginalizadas devem apontar sua marginalização somente enquanto ela não implicar as pessoas com quem estamos falando. Dois, devemos nos certificar de elogiar essas pessoas e convencê-las de que são iluminadas e inofensivas e não-opressoras, para encorajá-las a nos tolerar e incluir, e para evitar as forças perigosas que elas mobilizam quando na defensiva. Três, devemos evitar deixá-las desconfortáveis ou chamar atenção demais para a nossa diferença. (SPADE, 2010, p. 71).Para estudantes trans e travestis, que têm presenças mais fragilizadas do que as de docentes trans, essa mensagem se torna ainda mais óbvia. De nossas posições outsider within (COLLINS, 2016) na univer(cis)dade, somos simultaneamente convidades a ver nossas presenças como uma conquista e como continuidade de uma luta coletiva; mas também, a questionar os limites da inclusão — questionar a nossa ausência nos currículos, a falta de conhecimento da comunidade acadêmica sobre as nossas vidas, o status problemático de nossas presenças e o status de “gambiarra legal” dos nossos direitos. O preço da nossa inclusão, frequentemente, é o silêncio e a sujeição à violência.
No primeiro dia de Agosto de 2022, ocorreu na UERJ o Fórum Transgeneridades, organizado em parceria com a univer(cis)dade pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), tendo travesti na/da educação Sara Wagner York como uma das principais mediadoras, e divulgado nas redes sociais da ANTRA como uma proposta de “[...] comemorar a cooperação entre academia e movimentos sociais trans/travestis[...]”, no mesmo ano em que se comemoraram os 30 anos de história do movimento organizado de travestis e transexuais brasileiro. Transformando a atmosfera do evento, um coletivo autônomo de estudantes trans e travestis, que até então era apenas um grupo de acolhimento, realizou um protesto no fórum, reconceitualizando o espaço da univer(cis)dade e sua relação com a inclusão. Essa seria a primeira ação da Rede de Estudantes Trans e Travestis Organizades da UERJ, um coletivo que compõe estudantes trans e travestis de diversos cursos, períodos e turnos na univer(cis)dade, e que surge enquanto grupo ativista justamente nesse momento. Trazendo atenção para as falhas (c)istêmicas na implementação da política de nome social, e para as exposições, constrangimentos e reprovações arbitrárias decorrentes desse problema, estudantes da rede decidiram ocupar o auditório com mensagens como “A universidade mais inclusiva do Brasil expõe meu nome morto!”, “Nome Social é um Direito!”, “Violência (Institucional)! Desburocratiza o Nome Social!”[1], “Não ressucite o meu nome morto!” entre outras. Essa ação perturbou o evento, que buscava promover um diálogo entre a comunidade acadêmica da UERJ e o Movimento de Transexuais e Travestis Brasileiro. A conceitualização do espaço acadêmico como um espaço de agressão (c)istêmica foi e ainda é um dos principais eixos em torno dos quais nossos vínculos e ações coletivas se desenvolvem.
Aprendendo sobre a univer(cis)dade e mapeando seu funcionamento, a ação da Rede Trans UERJ tem um caráter inegavelmente pedagógico. Como estudantes trans enfrentando diversas formas de violência administrativa (SPADE, 2015) na univer(cis)dade, temos nos mobilizado para entender o funcionamento dos aparelhos jurídicos e administrativos que produzem nossa exclusão, nos engajado com as autoridades públicas e produzido coletivamente estratégias autônomas através de “pedagogias outras” que desafiam a inexistência produzida das pessoas trans nesse espaço (PASSOS, M. C. A, 2022).
No entanto, é precisamente nesse engajamento que nos damos conta de que os caminhos sistêmicos, burocráticos e administrativos de reivindicação dos nossos direitos parecem absolutamente insuficientes. Em meio às infindáveis legislações, portarias, decretos, precedentes legais, ouvidorias, e-mails e denúncias, temos feito a surpreendente descoberta de que não somos papéis ou objetos abstratos de leis e sistemas, mas pessoas! A ação institucional de reivindicação de direitos torna mais clara e evidente do que nunca a abrangência da transfobia não apenas em níveis sistêmicos e institucionais, mas de intenção, atenção, vontade e disposição por parte de docentes, funcionáries, e de toda a nossa comunidade acadêmica. Isso coloca um novo desafio no combate à transfobia que não está no nível da institucionalidade, nem no da autoridade, nem no da burocracia — mas no nível da relação. Esse desafio — muito maior do que parece! — é o de desaprender a lógica burocrática da univer(cis)ade, de deixar de lado as infinitas delegações de responsabilidade e competência institucional, em prol de uma política de direitos que não seja abstrata e objetificante.
Consideramos importante retomar um pouco da trajetória universitária de um dos dois únicos homens trans doutores no Brasil: João Nery, que também foi o primeiro a realizar uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Formado em p(cis)cologia após diversas dificuldades enfrentadas em sua graduação no período ditatorial, Nery acabou perdendo seu título por conta de um conflito da legislação brasileira com a sua existência:
O descompasso é tipicamente brasileiro: mudar o sexo do corpo é legal; do RG e dos demais documentos, não. Quem não tem o prestígio de uma Roberta Close tem que entrar na Justiça ou então fazer uma nova certidão de nascimento e, a partir dela, tirar novos documentos – é o que João fez, e o que o artigo 307 da Constituição considera crime de falsa identidade. Nosso “criminoso” nunca foi descoberto, mas para virar homem no papel também teve que matar Joana e enterrar com ela todas as suas conquistas, como o diploma de psicologia, que nunca mais pôde usar. (KAISER, 2011, p. 8).Em 2018, mesmo ano de sua morte, porém, recebe pela UFMT o título de doutor honoris causa, três décadas depois de ter perdido seu título. Gostaríamos de dizer que é uma triste história de um passado distante, porém essa ainda é uma ferida completamente aberta, que sangra em nossas vidas e que ainda não está perto de fechar e se tornar uma feia cicatriz.
Utilizando o grupo de acolhimento da Rede Trans UERJ como parâmetro, percebemos uma presença evidentemente maior de alunos transmasculinos e/ou não-bináries designades do gênero feminino ao nascer na univer(cis)dade atualmente, apesar de todas essas pessoas não somarem nem 1% da comunidade acadêmica da UERJ. Na realidade, em uma univer(cis)dade que conta com 43 mil estudantes matriculades em graduação e pós-graduação, temos até o momento conhecimento de cerca de 60 pessoas trans e um número ainda menor que efetivamente faz uso do nome social dentro dos sistemas da UERJ. No entanto, essa desproporção ainda é significativa por apontar as diferenças interseccionais de vulnerabilidade que afetam pessoas transmasculinas e transfemininas; e dada a atual situação com o restaurante universitário e os auxílios, as barreiras para estudantes cotistas e de baixa-renda se impõem ainda mais violentamente (o status administrativo trans já impediu estudantes de acessar auxílios e o passe livre universitário, somando os múltiplos efeitos da supremacia branca, da exploração de classe e da transfobia).
Reduzides aos seus registros e cadastros em sistemas, a documentações, números e diretrizes administrativas, estudantes trans e travestis frequentemente vêem suas presenças reais, concretas e vivas desconsideradas pela univer(cis)dade. Nossos nomes não são nossos até que os sistemas acadêmicos digam o contrário; nossos corpos não estão fisicamente presentes nas aulas até que as listas de presença os identifiquem corretamente; nosso desempenho e aprendizado não é reconhecido até que possa ser traduzido nos sistemas docentes para os quais não existimos. Efetivamente, é como se estivéssemos falando de uma posição impossível, como se fôssemos pessoas que não existem senão pela intervenção informática e técnica dos sistemas administrativos, que evidentemente não estão nem um pouco interessados em nos reconhecer dentro desse espaço.
Precisamos, mais do que nunca, mobilizar uma política anti-transfobia que, nos termos utilizados pela Rede Trans UERJ, reconheça que “é uma responsabilidade ético-política de toda comunidade acadêmica garantir a permanência de estudantes trans e travestis na universidade livres de discriminação ou violência institucional”. Isso nos pede um exercício imaginativo radicalmente contrapedagógico (GONÇALVES, 2019). Precisamos imaginar que formas criativas de combate à violência institucional podem ser desenvolvidas por estudantes, docentes e funcionáries além e aquém da lógica institucional da univer(cis)dade; quais formas localizadas de resistência e desaprendizagem se instauram quando a univer(cis)dade se põe a ouvir as perspectivas trans e travestis. Poderíamos sentar por horas e debater currículos queer e perspectivas trans-travestis de diversidade sexual e de gênero (que realmente acreditamos que podem formar, construir e ensinar!), mas sem que se desaprendam as relações que sustentam a agressão anti-trans na univer(cis)dade, esse esforço seria inteiramente em vão. Precisamos, nos termos de Viviane Vergueiro, de “uma sabotagem epistêmica — uma fechação babado” (VERGUEIRO, 2016, p. 97). O lugar para se começar é precisamente aqui: na presença concreta e na escuta atenta.
REFERÊNCIAS
COLLINS, Patricia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista negro. Sociedade e Estado, v. 31, n. 1, p. 99–127, 2016.
GONÇALVES, Mônica Hoff. Reflexões contrapedagógicas: desaprender e incendiar não são coisas que se pode separar. POIESIS, v. 20, n. 33, p. 41, 2019.
KAISER, Millos. Corpo estranho. In: NERY, W. João. Viagem Solitária: memórias de um transexual trinta anos depois. São Paulo: Leya, 2011. p. 7-10. (Introdução).
PASSOS, Maria Clara Araújo dos. Pedagogias das travestilidades – 1. ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.
SPADE, Dean. Be Professional! Harvard Journal of Law & Gender, v. 33, p. 71–84, 2010.
SPADE, Dean. Normal life: administrative violence, critical trans politics, and the limits of law. Revised and expanded edition. Durham, [North Carolina]: Duke University Press, 2015.
VERGUEIRO, Viviane. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade. Dissertação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.
YORK, Sara Wagner; OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes; BENEVIDES, Bruna. Manifestações textuais (insubmissas) travesti. Revista Estudos Feministas, v. 28, n. 3, p. e75614, 2020.
[1] Esse cartaz, com a grafia “Violência (Institucional)”, fazia referência ao formato adotado pela UERJ em listas de chamada e listas públicas para a divulgação dos nomes sociais, exemplificado como: “Nome de Registro Civil (Nome Social entre parênteses)”. Esse formato produziu inúmeras confusões, exposições desnecessárias e constrangimentos.
Como citar este artigo:
BARBOSA, Angie de Lima Santos; SANTOS, Lori Araújo Delarue dos. Desaprendendo a Univer(cis)dade: A Ação da Rede Trans UERJ. Notícias, Revista Docência e Cibercultura, Janeiro de 2023, online. ISSN: 2594-9004. Disponível em: < >. Acesso em: DD mês. AAAA.
Editores/as Seção Notícias:
Sara Wagner York, Felipe Carvalho, Marcos Vinícius Dias de Menezes, Mariano Pimentel e Edméa Santos