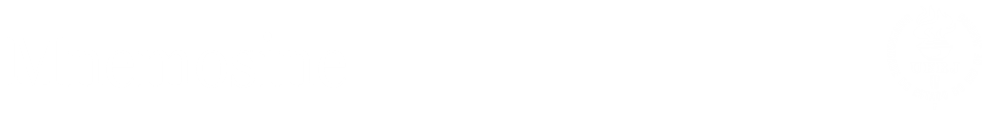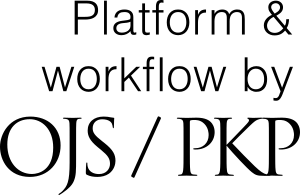Editorial
DOI:
https://doi.org/10.12957/mnemosine.2022.70838Resumo
“Alegria nas mãos, primavera nos dentes”
Aos vinte e dois dias do ano de dois mil e vinte e dois, quingentésimo vigésimo segundo aniversário do baixo começo, o chão de Nhoesembé tremeu. Não pelas forças da Terra, que ali são firmes — do que provém o batismo tardio de Porto Seguro, na Bahia. O que moveu o chão e suspendeu um pouco o céu foi o passo ritmado da marcha cantante dos pataxós, que naquela manhã partiam rumo à capital do estado para o 4º Acampamento dos Povos Indígenas da Bahia, quando trombaram pelo caminho com os preparativos de aparição da comitiva de inimigos oficiais da vida, recém-chegada de Brasília, para participar das mórbidas celebrações em torno dos 522 anos da chegada das caravelas portuguesas a Pindorama. Enquanto a Polícia Federal rondava, engatilhada, as imediações do Marco do Descobrimento, protegendo o palanque ainda vazio, a multidão formada por quinze aldeias indígenas cantarolava em direção à praça. Entre cantos de guerra e exaltações de alegria, um recado soa mais alto: “Pega seu governo genocida e vai embora!”.
Tratada pelos jornais e sites de notícia como apenas mais uma imagem invisível destes tempos revirados, o ato Pataxó circula pelas redes sociais em vídeos feitos pelos próprios indígenas, mas também por blogueiros locais, jornalistas e, sem espanto, por apoiadores da máquina genocidária que hoje se atualiza em governo. No mar de imagens que deslizamos na tela dos smartphones, uma parece insistir: à frente da multidão, o cacique Zeca Pataxó (coordenador estadual do Movimento Indígenas da Bahia) afasta com os braços as barreiras instaladas para delimitar o percurso até o palanque.
Em segundos, as grades de metal que interditam o contato entre o dentro e o fora do poder são lançadas umas sobre as outras, cedendo ao gesto implacável das mãos Pataxó, desfazendo o frágil alinhamento da barreira sobre o chão. Em impulsos ritmados pelos tambores às suas costas, o corpo do cacique faz passagem para a multidão que avança, alegre, alargando o caminho. “Os índios tão quebrando tudo”, diz um homem que grava o ato, discípulo audiovisual de Caminha, acusando seu próprio modo de ver o mundo. “Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos!”
Diante da presença contagiante dos Pataxó, os habitualmente ruidosos apoiadores do fascismo verde-amarelo emudecem, titubeiam, engolindo a poeira da dança. Aos semblantes atordoados do patriotismo cafona, o povo da terra contrapõe sua presença irresistível. Os inimigos, impotentes, se evadem. “Apequenante” como sempre, o chefe de Estado mede seus passos entre amedrontados.
O que estas cenas podem nos dizer ultrapassa a mera sucessão das ocorrências. A imagem do Cacique e do seu povo arrebentando a barreira imaginária que os separa do livre movimento implica uma energia política em tudo distinta daquela que preparou o palanque fascista e faz circular as “andanças” do seu porta-voz, angariando engajamento através dessa eficaz algoritmia da tristeza. Ele, que precisa ser visto e ouvido para poder, não interessa aos olhos e ouvidos Pataxó. O ato carnavalesco do povo enlutado não pede que este corpo político apodrecido os escute ou os veja. Exige, ao contrário, que ele vá embora, que se pique!
Poder pouco não impede que a multidão saiba muito bem o que pode. Atrapalhar a propaganda da morte com a presença da vida é “ter a força de saber que existe”, como nos lembra certa canção inatual. O gesto dos braços que rompem a ordem mortífera é um lampejo do que nos torna vivos. E olhar para o tempo assim é teimar em sempre poder contar outra história. As grades do corredor presidencial não resistem à alegria dos braços indígenas, porque as mãos Pataxó sorriem para o aço, que recua, se amontoa e diz seu sim metálico. O rosto do Cacique, “tranquilo e infalível”, transmite a alegria de quem não precisa sorrir, pois “entre os dentes segura a primavera”.
É preciso ter sido feito da mesma debilidade das grades (do palanque, da história…) para respeitá-las e obedecê-las. Do contrário, testaríamos sua força lançando mão da nossa. Mas o que há nas mãos do Cacique para que ele perceba isso que nos tem escapado? Como inventar, concretamente, nossa própria capacidade de agir, de também fazer fugir o medo e a tristeza? Impulsionados pelo gesto Pataxó, perguntamos: como abrir o presente?
Este livro reúne e combina as forças de cada vida que o teceu (por dentro e por fora das autorias) em meio ao desastre humanitário que nos atinge pandêmica e politicamente. Fruto da articulação do Grupo de Trabalho Políticas da Subjetividade, vinculado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, Abrir o presente: inventar mundos, narrar a vida, enfrentar o fascismo entrelaça em suas linhas a composição de uma abertura prospectiva do nosso tempo, interpelando-o através de três vias, a saber: a análise dos processos de subjetivação em meio às políticas neoliberais no campo do trabalho, da educação, da saúde, da assistência social, da cidade, da justiça e dos direitos humanos; experimentações ficcionais, figurativas e fabulativas como aposta para a produção de afetações e deslocamentos sensíveis em processos de subjetivação hegemônicos, a partir de estratégias metodológicas inventivas construídas na singularidade dos seus campos de atuação; e por fim, o acionamento de práticas clínico-políticas atentas aos processos de resistência frente ao conservadorismo e ao acirramento de violências relativas aos marcadores raciais, de gênero, de classe e de privação sensorial e motora. Tarefas enormes, intermináveis, é verdade. Razão pela qual elas precisam de muitas mãos. O livro que se segue é, neste sentido, um convite à cumplicidade que estes pequenos-grandes combates exigem entre nós.
Começamos com as mãos de Danichi Mizoguchi, Marcelo Ferreira e Maria Elizabeth Barros de Barros em “Subjetividades e sujeições no fascismo tropical?”, capítulo que aborda o projeto político jamais escamoteado na ocupação da máquina pública federal brasileira: um fascismo tropical. São exaltadas problemáticas do Brasil contemporâneo marcadas por extrema violência estatal para com as dissidências e minorias e pelo enfrentamento negacionista do governo de Jair Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19. Partindo das perguntas: “como enfrentar esse modo de subjetivação tão duradouro na história brasileira e que hoje viceja na cena pública sem qualquer escrúpulo? Como disputar a existência de outros mundos possíveis? Afinal, que outras imagens e que outras vidas ainda podemos inventar?”, os autores e a autora discutem as modulações do microfascismo espraiado como fluxo e tornado modo de vida, tecendo análises de que é preciso sustentar um movimento de revolta. Revolta como disputa na criação de mundos e de modos de produção subjetiva.
Em “Contar nossos mortos”, Gabriel Lacerda de Resende trata das políticas de desaparecimento, com destaque àquelas praticadas no Brasil de hoje, indagando: “como contamos nossos mortos?”. Transitando por entre considerações bio e necropolíticas, suas análises abordam a particular conexão entre morte, violência e luto, destacando a importância de narrar as vidas e as mortes, com destaque para aquelas relacionadas aos mais diversos contornos da violência de Estado, tal como expresso em falas do atual presidente brasileiro quanto aos desaparecidos políticos ou às pessoas mortas pela Covid-19. “É tempo de escavar este solo de valas comuns, este solo de que somos filhos. É tempo de buscarmos na solidariedade lutuosa e na força da memória o empuxo para interromper, ainda que por um frágil instante, o curso da barbárie”, diz o autor.
As mãos carnavalescas e antropofágicas de Juliana Cecchetti, Eder Amaral e Danichi Hausen Mizoguchi estão juntas no terceiro capítulo. “‘Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval’: a vacina antropofágica contra a doença fascista” busca em experiências estéticas brasileiras de cem anos para cá o que chamam de “fagulhas de insurreição”. Do carnaval de 1919 (pós-gripe espanhola) à Semana de Arte Moderna, e desta à Tropicália, ao Teatro Oficina, ao Cinema Novo e tanto mais, o trio revisita o modernismo antropofágico explorando sua potência de invenção de mundos, pela alegria e pela erotização do agir na defesa de um sair da linha, como modo de restaurar a “vacina antropofágica”.
Ainda sob os ares da festa, Juliana Cecchetti e Marcelo Santana Ferreira dão as mãos em “Outras doces barbáries: a força dos carnavais na disputa do presente”. Nele, discute-se a inesgotabilidade do sentido do carnaval, explorando-o como potência de uma alegria que revoluciona e a carnavalização na qualidade de força de interrupção da cronologia, tentativa oportuna de se abrigar no tempo intensivo da festa para indicar que se está em luta. Partindo da cena de um Rio de Janeiro de 2021, sem carnaval devido à pandemia de Covid-19, sob a “égide” de uma política genocida e negacionista em que a alegria parece ter sucumbido, a dupla pergunta: “quando o carnaval se recolhe, o que ele ainda tem a nos dizer em relação à viabilidade da vida e da existência em comum que não estão separadas da alegria?”.
“Como o discurso de ódio pode prosperar com tal facilidade entre nós? Por que nos é tão difícil compor com a diferença, uma vez que ela é também uma direção estratégica? Como promover outras modulações micropolíticas dos encontros com as diferenças de modo a escapar deste voraz jogo de assimilação pela colonização, fetichização, tokenismo?”. Estas perguntas nos chegam pelas mãos de Vanessa Maurente, Luis Artur Costa e Cleci Maraschin em seus “Ensaios para figurações: Indústria do Gênero e Ilhas dos Afetos”. A partir daí, as autoras e o autor trazem elementos de suas experiências de pesquisa e extensão pelo nucogs (Núcleo de Ecologias e Políticas Cognitivas/UFRGS), onde empregam tecnologias materiais, semióticas e coletivas, promovendo jogos narrativos que tensionem e desloquem as formas normativas hegemônicas que costumam conformar nossas experiências e fazeres com o mundo. São abordadas duas experiências de jogo em particular: A Indústria do Gênero e Ilha dos Afetos, as quais geraram uma estranha experiência familiar com o presente, bem como envolvem a construção coletiva de sentidos sobre afetos e experiências na e com a diferença.
“Por uma Clínica do Trabalho antirracista” vem das mãos de Tatiane Oliveira e Fernanda Spanier Amador. Decorrendo da pesquisa de mestrado intitulada Racializar o problema clínico do trabalho: professoras negras e experiência do trabalho como atividade na educação básica, defendida no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional/UFRGS, discute-se aqui a necessidade de racializar as Clínicas do Trabalho. Trata-se de interpelar a dimensão racializada da experiência por entre a história do ofício, a qual permite-nos compreender como o racismo sustenta certos gêneros profissionais. Partindo do conceito de Estilo em Clínica da Atividade, apresenta-se a original formulação das Estilizações Marginais (produzidas no escopo da dissertação em questão), isto é, aquilo que diz das estratégias empregadas pelas docentes negras na direção da expansão do poder de ação no trabalho, uma vez que enfrentam, reiteradamente, o não reconhecimento de sua contribuição ao ofício por parte da branquitude. Argumenta-se pela urgente necessidade de tensionar o campo das Clínicas do Trabalho na direção de um fazer comprometido com uma prática antirracista, comprometido com um fazer clínico que escute, veja e problematize as práticas de violência racista que conformam o cotidiano do trabalho e do próprio ofício.
Ainda com as mãos sobre o trabalho, Fabio Hebert, Fernanda Spanier Amador, Jéssica Prudente e Maria Elizabeth Barros de Barros escrevem “Sobre ofício e cosmopolíticas: quando a vida no trabalho se torna defensável?”. Nele são levantados elementos analíticos relativos a como conectar trabalho a uma vida digna de ser vivida. Partindo dos desafios ético, políticos e estéticos, tendo em vista os modos como se têm cuidado do planeta, liga-se a pergunta: “como cuidar do trabalho no presente distópico?.” Levando em conta o recrudescimento dos fascismos e da intensificação precarização do trabalho contemporâneo, analisa-se a gravidade do que se passa com os ofícios no presente. Partindo do argumento de Yves Clot de que a vida precisa ser defensável no e pelo trabalho para que a sua prática opere saúde, trabalhos nos quais a vida não é defensável requer de nós, pessoas que exercemos a Clínica do Trabalho, um posicionamento específico de crítica que não oferte amortecimento do sofrimento, mas que também possa compor com as narrativas e possa operar em outras cosmopolíticas. Por isso reafirma-se a impossibilidade de ofício em certos casos, o que nos mostra uma situação extrema de degradação existencial.
“Por uma ética da desobediência para o presente” chega pelas mãos de Jéssica Prudente e Rosimeri de Oliveira Dias. O capítulo trata do desobedecer no tempo presente como um imperativo ético, uma aposta na vida aliançada com a coragem intrínseca aos riscos das modulações do fascismo contemporâneo. Entre essas urgências que as condições de possibilidade do presente engendram, propõe-se dois eixos de análise e de intervenção, pela transversalização de experiências e operação de resistências à aderência fascista que restringe possibilidades de criação e convoca obediência. O primeiro eixo é o da desobediência e o segundo eixo trata da coragem e da alteridade, atravessados pela noção de crítica. Afirma-se uma escrita que se singulariza pelo feminino, escrita por mulheres entre suas práticas na educação e na saúde.
Encerramos os trabalhos “Por entre conversas e histórias com povos originários para adiar o fim do mundo”. Feito pelas mãos de Cristiane Bremenkamp Cruz, Fabio Hebert da Silva e Rosimeri de Oliveira Dias. Tecido entre Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro e pela inspiração das Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak (2019) —, o nono e último capítulo traz histórias como forma de enfrentar o presente em companhia dos povos originários. “Como temos sido capazes de afirmar vida em tempos tão sombrios como os que vivemos no presente? Como nos utilizamos desta conexão e interlocução com os povos originários para que elas sustentem uma aposta ético-estética-política de resistência às práticas de individualização? De que modos podemos nos engajar em experimentações coletivas que busquem tecer possibilidades de um futuro aberto à alteridade e sua própria tessitura coletiva e comum? Como explorar conexões com novas potências de agir, sentir, imaginar e pensar, geradoras de alegria e de solidariedade, enfrentando o modo de produção capitalista e o projeto de eliminação necropolítico que ganha força na contemporaneidade?” são algumas das interrogações das autoras e do autor ao longo do texto.
Padecer de Brasil não é coisa que se aguente sozinho. Abrir o presente, sintagma plural e polifônico, nos parece uma maneira direta de cuidar do pensamento e do corpo, de empurrar barreiras entre nós, de abrir passagem e mexer no clima. Cada linha deste livro é um gesto no sentido da restauração do nosso tamanho, isto é, daquilo que alcançamos andando com os pés no sonho.
Outono do ano em que voltamos a nos encontrar!
Eder Amaral; Fernanda Spanier Amador; Rosimeri de Oliveira Dias
O número tardou um pouco mais do que devia, pois devia, a todos/as nós, uma espera. Repito, por adorá-lo/adotá-lo, o já dito acima: “O ato carnavalesco do povo enlutado não pede que este corpo político apodrecido os escute ou os veja. Exige, ao contrário, que ele vá embora, que se pique!”. Risonha, entoo agora, entoo hoje: “tá na hora de já ir ....embora!” . E retomo, sempre e sempre, o tempo que teima “em sempre poder contar outra história”. Tempo nunca reconciliado. Tempo que, “tranquilo e infalível” como Bruce Lee, transmite a alegria de quem não precisa sorrir, pois “entre os dentes segura a primavera”. Tempo que faz tremer de horror quando pensamos que, em vez de ser este, o tempo singular que se fez, poderia ser o daquelas grades metálicas, então afastadas pelas mãos Pataxó. Tempo que escrevemos juntos/as, inclusive na forma de um dossiê-livro, de alguns artigos e de uma biografia-encontro que acontecimentaliza e desmultiplica causas e causos de/com alguém, amigo que um dia ganhamos e um dia se foi. Tempo que afirma a alegria-senhora, a alegria prova dos nove, por mais que já tenha levado embora nosso vapor barato, nossas dunas, em seu jeito estranho de forjar, também, perdas e danos. Seguimos, então, apostando na amizade como modo de vida, na coragem da verdade, no adiamento do fim do mundo. Nossas mãos ajudam e se ajudam nisso tudo. “Nanicamente”, “minoritariamente”, tendo o risco como única diretriz permanentemente afirmada. Boa leitura, 13 beijos, e que venha logo esse tal 2023! Heliana Conde, 11/11/2022