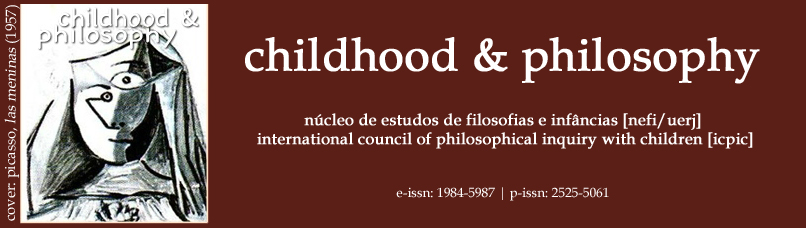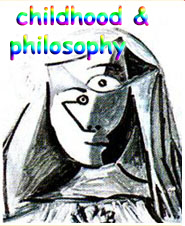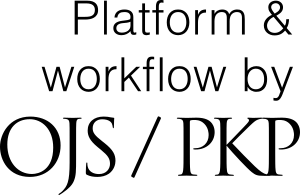discussões filosóficas com crianças: uma oportunidade para experimentar abrir a mente
DOI:
https://doi.org/10.12957/childphilo.2019.42982Palavras-chave:
mente aberta, diálogo, habilidade de pensamento, alteridade, interaçãoResumo
As crianças desenvolvem e experimentam inúmeras habilidades de pensamento no decorrer de um diálogo filosófico, que é o meio didático para a prática da filosofia com crianças, desde o seu nascimento. Uma delas desempenha um papel primordial na possibilidade de um verdadeiro diálogo, já que se baseia no encontro de mentes: ter a mente aberta. Além disso, este conceito é onipresente na literatura sobre filosofia para crianças (Lipman, 2003: 172-179; Tozzi, 2001, 2002) e, portanto, requer uma exploração e uma análise precisa, que é o objetivo deste artigo. Mais precisamente, há três objetivos: definir a natureza e as características da mente aberta, analisar sua emergência nas discussões filosóficas e, além disso, estudar seu papel na prática da filosofia. Nossa pesquisa (conduzida na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne) mostrou que certos indicadores presentes no discurso das crianças manifestam a ocorrência de abertura da mente: reformulação das palavras umas das outras, complementaridade de enunciados, explicação das ideias um do outro, estabelecimento de nuances, desacordo em termos e pensamento crítico. Esses atos cognitivos revelam uma relação intelectual entre as crianças, a ponto de que a abertura da mente pode ser definida como uma atitude bidimensional: tanto como uma disposição cognitiva que possibilita a compreensão da ideia de outra pessoa como uma disposição ética que permite a aceitação da alteridade. Além disso, sinaliza uma postura ética: a capacidade de assumir abraçar as palavras dos outros, sem necessariamente concordar, a capacidade de levar em conta uma visão alternativa sobre o mundo. A hipótese de pesquisa, que é o resultado de sete anos de pesquisa na cidade francesa de Romainville (leste de Paris) é, portanto, a seguinte: discussões filosóficas constituem uma oportunidade para as crianças experimentarem ter a mente aberta como uma habilidade de pensamento crucial e como uma postura ética.Downloads
Referências
Chirouter, E. (2007), Lire, réfléchir et débattre à l’école élémentaire : La littérature de jeunesse pour aborder des questions philosophiques, Paris: Hachette.
Daniel, M.-F. (2005), Pour l’apprentissage d’une pensée critique en primaire, Québec: Les Presses de l’Université du Québec.
Fisher, R. (2008), Teaching thinking. Philosophical Enquiry in the classroom, London: Continuum.
Gregory, M. R. (2000), Care as a goal of Democratic Education, Journal of Moral Education, 29 (4): 445-461.
Hawken, J. (2016), Philosopher avec les enfants. Enquête théorique et expérimentale sur une pratique de l’ouverture d’esprit, Paris: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Lipman, M. (1988), Philosophy goes to school, Philadelphie, Temple University Press, 1988.
Lipman, M., Oscanyan, F., Sharp, A. (1900), Philosophy in the classroom, Philadelphia: Temple University Press, 2nd edition.
Lipman, Matthew, « Caring as Thinking », in revue Inquiry: Thinking across the Disciplines, vol. 15, n°1, 1995.
Lipman, M. (2003), À l’école de la pensée, trad. fr. N. Decostres, Bruxelles, De Boeck.
Mead, G. H. (2015), Mind, self and society (1934), Chicago: Chicago University Press.
Mendus, S. (2004), Article « Tolérance », Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, tome 2, dir. M. Canto-Sperber, Paris: PUF, 1996.
Piaget, J., Inhelder B. (1966), La psychologie de l’enfant, Paris: PUF.
Peirce, C.S. (2002), Œuvres 1 : Pragmatisme et pragmaticisme ; Œuvres II : Pragmatisme et sciences normatives éd. TIERCELIN, C. & THIBAUD P., Paris: Cerf.
Pettier, J.-C. (2004), Apprendre à philosopher, Lyon: Chronique Sociale.
Tozzi, M. (2001), L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Paris: Hachette Education, CNDP.
Tozzi, M. (2002, dir.), Nouvelles pratiques philosophiques en classe, enjeux et démarches, Rennes: Cndp-Crdp de Bretagne.
Trovato, V. (2004), L’enfant philosophe. Essai philopédagogique, Paris: L’Harmattan.
Vygotski, L. (2003), Pensée et langage, trad. F. Sève, 1997, Paris: La Dispute.
Worley, P. (2011), The if machine. Philosophical Enquiry in the classroom, Londres: Continuum.