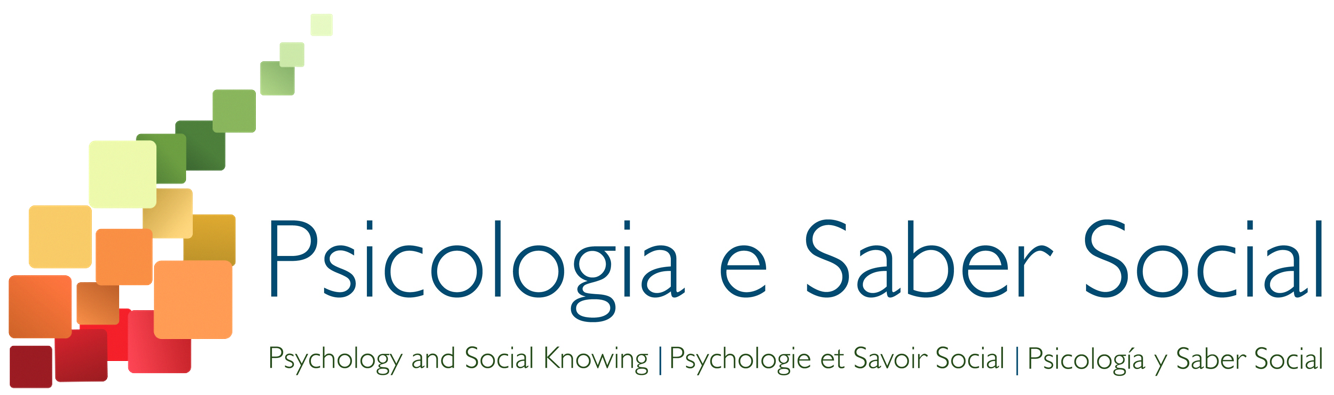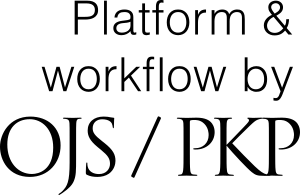As imagens e as coisas
Uma arqueologia da linguagem audiovisual e sua interface com processos de subjetivação
Palabras clave:
Audiovisual, Cinema, Televisão, Streaming, Subjetivação, LinguagemResumen
Tendo como fio condutor a linguagem audiovisual, o presente artigo faz uma revisão do processo sócio histórico desta forma de comunicação que atravessa a história da humanidade. O artigo é resultado de uma pesquisa realizada para obtenção de título de mestre em Psicologia no ano de 2023 na Universidade Federal de Minas Gerais, no qual pretendeu-se avaliar e discutir as representações sócio-históricas de personagens LGBTQIAP+ na produção audiovisual (1920-2022) a partir da perspectiva da psicologia social. Neste artigo iremos fazer o recorte de um dos capítulos da dissertação que teve como foco uma arqueologia da linguagem audiovisual. Para tanto, procurou-se focar na reorganização cronológica da produção das imagens até a chegada do audiovisual, compreendendo tal fenômeno para além do seu aspecto estético e de entretenimento. Na primeira parte deste artigo nos debruçamos nos aspectos sócio-histórico da linguagem visual a partir do referencial teórico de Vilém Flusser (2007), sobretudo no período em que se debruçou na produção da comunicação humana. Em seguida, o artigo aborda o surgimento do audiovisual perpassando pelo cinema, criação da TV e a era do streaming caracterizada pelo consumo do audiovisual a partir do ciberespaço. Por conseguinte, a fundamentação dos argumentos em relação aos processos de subjetivação se dará em todo o escopo do texto, logo as imagens e as coisas é uma proposta de pensar as imagens como linguagem, tendo uma função mediadora de processos psíquicos, podendo produzir assim como as palavar, crenças, teorias, saberes, ideologias e representações.
Citas
Bahia, L. (2009). Uma análise do campo cinematográfico brasileiro sob a perspectiva industrial [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Fluminense]. Repositório Institucional da UFF. https://app.uff.br/riuff/handle/1/18923
Bertella, G. S. (2016). A era do streaming: uma análise da interação, produção, distribuição e consumo de conteúdo [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade de Passo Fundo]. Repositório Institucional da UPF. http://repositorio.upf.br/bitstream/riupf/986/1/PF2016Gustavo%20Santetti%20Bertella.pdf
Boswell, J., & Strickland, C. (2014). Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Nova Fronteira.
Bourdieu, P. (1992). Pierre Bourdieu, avec Löic Wacquant; Réponses. Revue française de sociologie.
Bourdieu, P. (1997). Sobre a televisão. Jorge Zahar.
CETIC.BR. (2020) Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Centro de Estudos sobre as TICs. http://www.cetic.br.
Cirello, M. T. D. G. (2010). Educação audiovisual popular no Brasil: panorama, 1990-2009. [Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital USP. https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-19112010-113739/publico/23 51228.pdf
Coelho, J. T. (2003). Semiótica, Informação e Comunicação. Perspectiva.
Cortês, H. S. (2003). A sala de aula como espaço de vida: educação e mídia. In L. W. Ferreira, C. Marchioro (Orgs.), Leituras significações plurais: educação e mídia: o visível, o ilusório, a imagem. EDIPUCRS.
Dondis, D. A. (2007). Sintaxe da linguagem visual (3. ed., J. L. Camargo, Trad.). Martins Fontes.
Figueirôa, A. (2004). Cinema Novo: a onda do jovem cinema e sua recepção na França. Papirus.
Flusser, V. (2007). O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. Cosac Naify.
Flusser, V. (2011). Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Annablume.
Forero, M. T. (2002). Escribir televisión: manual para guionistas. Paidós.
Giles, T. R. (1975). História do Existencialismo e da Fenomenologia. EPU; EdUSP.
Globo (2010). Guia Ilustrado TV Globo: novelas e minisséries. Projeto Memória Globo. Jorge Zahar.
Guattari, F. (1993). Da produção de subjetividade. In A. Parente (Org.), Imagem- Máquina: a era das tecnologias do virtual (pp. 177-194). Editora 34.
Guattari, F., & Rolnik, S. (1997). Micropolítica: Cartografias do desejo. Vozes.
Jenkins, H. (2006). Cultura da Convergência. Aleph.
Lévy, P. (1999). Cibercultura (C. I. Costa, Trad.). Editora 34.
Lucena Jr., A. (2002). Arte da animação: técnica e estética através da história. SENAC.
Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Gustavo.
Martín-Barbero, J. (2004). Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. Senac.
Martins, L. M. R., & Rabatini, G. V. (2011). A Concepção de Cultura em Vigotski: contribuições para a educação escolar. Psicologia Política, 11(22), p. 345-358. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3899064.pdf.
McLuhan, M. (2003). Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Cultrix.
Messa, M. R. (2017). A cultura desconectada: sitcoms e séries norte-americanas no contexto brasileiro. UniRevista, 1(3), 1-9.
Moody, R. (2020). Netflix subscribers and revenue by country. Comparitech. https://www.comparitech.com/tv-streaming/netflix-subscribers/
Netflix Media Center.(2020). Séries mais vistas no ano de 2020. https://media.netflix.com/pt_br/search?term=s%C3%A9ries%20mais%20vista%20no%20ano%20de%202020.
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2016). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2015. Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Pallottini, R. (1998). Dramaturgia de televisão. Perspectiva.
Pommerehne, W., & Frey, B. (1993). La culture a-t-elle un prix? Essai sur l’economie de l’art. Bulletin des bibliothèques de France, 6, 116-118. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1993-06-0116-018
Quaresma, L. (2010). O projeto de extensão “Cine-debate: CINEMARX” (UFF) e as polêmicas do esporte moderno na sociedade atual: Reflexões a partir da análise do filme Um Domingo Qualquer, de Oliver Stone. III Congresso Sudeste de Ciências do Esporte. http://congressos.cbce.org.br/index.php/cbcesudeste/iiicbcesudeste/paper/viewFile/2354/1891
Richter, F. (2018). Netflix is american’s plataform of choice for TV content. Statista. https://www.statista.com/chart/14559/americans-favorite-tv-platforms/
Saccomori, C. (2015). Qualquer coisa a qualquer hora em qualquer lugar: as novas experiências de consumo de seriados via Netflix. Revista Temática, 11(4), 53-68. https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tematica/article/view/23903/13106
Sadek, J. R. (2008). Telenovela: um olhar do cinema. Summus.
Simmel, G. (1987). A metrópole e a vida mental. In O. G. Velho (Org.), O fenômeno urbano. Guanabara.
Sydenstricker, I. (2012). Taxonomia das séries audiovisuais: uma contribuição de roteirista. In G. Borges, R. L. Pucci Jr., F. Seligman (Eds.), Televisão: Formas audiovisuais de ficção e documentário. Instituto de Artes.
Tolentino, C. A. F. (2001). O rural no cinema brasileiro. Editora UNESP.
Tomaim, C. S. (2006). Janela Da Alma - Cinejornal E Estado Novo - Discurso Totalitário. Annablume.
Vygotski, L. S. (1993). Problemas de Psicología General. In L. S. Vygotski, Obras Escogidas (2ª ed.). Visor.
Vygotski, L. S. (1995). Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. In L. S. Vygotski, Obras Escogidas (3 ed.) Visor/MEC
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Declaro que o texto é inédito e foi submetido exclusivamente a essa Revista para fins de publicação. Ressalto que foram respeitados todos os procedimentos éticos exigidos em lei.
Declaro concordar com a cessão dos direitos autorais do artigo à Revista Psicologia e Saber Social, estando vedada sua reprodução, total ou parcial, em meio impresso, magnético ou eletrônico, sem autorização prévia por escrito do Editor Científico da Revista.