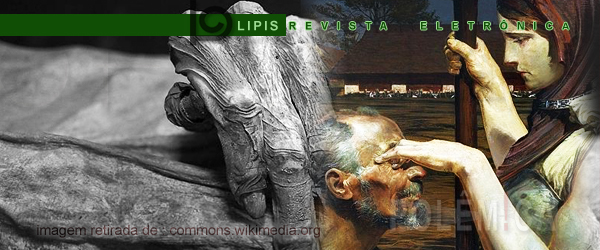
SILÊNCIO, EXCLUSÃO E MORTE: o trabalho do negativo na velhice
__________________________________
Carlos Mendes Rosa
Doutorando do Programa de Pós Graduação em Psicologia da PUC-Rio. Especialização em Psicopatologia Clínica pela UNIP. Professor da Graduação em Psicologia do IBMR. Pesquisador Associado do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC-Rio. carlosmendesrosa@gmail.com
__________________________________
Resumo: Neste texto pretendemos abordar alguns aspectos relacionados com o envelhecimento na sociedade atual, ressaltando as dificuldades que a sociedade possui em lidar com este fenômeno natural que é o envelhecer. O artigo busca ainda pensar o trabalho do negativo em psicanálise como possível saída simbólica para a condição social e psíquica da velhice.
Palavras-chave: Velhice, exclusão, trabalho do negativo
SILENCE, EXCLUSION AND DEATH: THE NEGATOVE WORK IN OLD AGE
Abstract: In this paper we aim to address some aspects of aging in today's society, especially the difficulties that society has to deal with this natural phenomenon which is growing older. The article tries to think the work of negative in psychoanalysis as possible symbolic way out of the social and mental condition of old age.
Keywords: Aging, exclusion, negative work
Alguns podem até dizer que estamos comemorando dez anos do Estatuto do Idoso e muitos progressos foram feitos no sentido de uma melhor aceitação dos velhos no convívio social. Entretanto, o que notamos com tristeza é a existência de muitos preconceitos em relação aos velhos.
Talvez muitos estejam mascarados por rótulos e programas populistas, mas o preconceito existe. Ele se expressa em várias atitudes do cotidiano como a exclusão social, o apagamento subjetivo, o desinteresse pela história de vida e o medo do contato com a morte, figura tão estreitamente ligada à velhice.
Tentaremos colocar em evidência estas questões com a finalidade de pensar possíveis mecanismos psíquicos e simbólicos que deem conta desta condição social. Para tanto, vamos nos servir dos conceitos de Roussillon e Green acerca do trabalho do negativo. Essas teorias tentam explicar as diferentes formas de elaboração da pulsão que perde o interesse pelo mundo e se volta para o próprio sujeito. Um processo de retraimento que a ingratidão do mundo e a pouca aceitação da sociedade em relação aos velhos podem acelerar ou incentivar.
Afastando os velhos do convívio
A primeira faceta do preconceito que podemos observar é o fato de que quanto mais se vive biologicamente neste modelo societário, menor é o reconhecimento simbólico. Talvez, por isto, cada vez mais aumentem os investimentos naquilo que alguns sociólogos chamam de adultescência -, a eterna busca pela aparência jovem seja no corpo, seja nas roupas, seja no estilo de vida. Como se o velho só pudesse existir socialmente sob a roupagem de uma juvenilidade mercadológica. Triste cenário no qual todas as representações já se encontram dadas e estabelecidas, como se não fosse lícito ao velho ser diferente daquilo que a sociedade espera dele.
A antropologia cultural e social moderna mostra que a velhice não deve ser considerada apenas em seus aspectos físicos e cronológicos, mas sim como uma representação social (Geertz, 1996). Destaque-se a memória entendida como um fenômeno social. A tarefa de lembrar ou relembrar é tanto ou mais frutífera quanto maior for sua relevância e inserção na sociedade e no contexto histórico-cultural. São as lembranças dos velhos em nossa cultura relevantes ou positivamente qualificadas?
É sabido que a sociedade moderna tende a tratar os velhos com desprezo devido ao declínio em suas forças e capacidades. No entanto, essa marginalização do velho não parece ocorrer em todas as culturas. Ironicamente, apenas naquelas que já atingiram um determinado grau de desenvolvimento. Segundo Gebran (1999) as chamadas “sociedades ágrafas” valorizam e reverenciam o saber e o fazer daqueles que já acumularam experiência através dos muitos anos vividos.
Este fato se relaciona com a transmissão dos conhecimentos necessários à continuidade da cultura pelos mais novos. De sorte que nestes povos ágrafos a única maneira de se adquirir o saber, na ausência de qualquer representação escrita (livros, jornais, computadores, etc), é perguntando e escutando o que os mais velhos têm para ensinar.
Nesse sentido Benjamin (1936) fala do valor que a experiência possuía nas sociedades anteriores ao advento da imprensa. A experiência transmitida de pessoa a pessoa era a fonte a que recorriam todos os narradores. Estes narradores eram os grandes responsáveis pela perpetuação e circulação do conhecimento. Distinguiam-se em duas categorias; os camponeses, que permaneciam estacionários em suas terras e herdavam o saber milenar que ouviram seus antepassados contarem; e os marinheiros, que cruzavam as terras do mundo e voltavam com o relato de aventuras que eram ouvidas com interesse por aqueles que em terra ficavam.
Nossa contemporaneidade parece ter silenciado os relatos narrativos, transferindo-os para os papéis de circulação impressos nos jornais e, nestes tempos virtuais, nos incontáveis escaninhos virtuais (Rosa e Zamora, 2012). Benjamin (1933) situa essa mudança na maneira de lidar com o relato no início do século passado, mais notadamente durante a 1ª Guerra Mundial. O autor conta que os combatentes, que em outras guerras milenares possuíam feitos nobres e dignos de fazerem seus nomes ecoarem pela eternidade, voltaram silenciosos dos campos de batalha, pobres em experiências comunicáveis. Internalizaram as emoções indescritivelmente dolorosas de um evento sinistro para a humanidade.
Aproveitando este estado de silêncio das pessoas, o sistema econômico tratou de valorizar outras maneiras de expressão e formação de conhecimentos. Assistimos então à propagação da mídia e da indústria cultural, agora novas fontes de conhecimento e modeladores de uma sociedade que não mais fala, não mais questiona, tampouco expressa suas emoções; só aceita.
A esse processo de interiorização das emoções, das regras e da disciplina, Foucault (1977) denominou de “tecnologias do self”. Nas palavras do autor: “a eficácia das práticas disciplinares é maior quando não são vividas como demandas externas ao sujeito, mas como comportamentos auto-gerados e auto-regulados” (p.136).
A terceira idade e outros nomes
O aumento da expectativa de vida da população mundial faz crescer também o número de pessoas velhas em todos os países. No Brasil as pessoas com mais de 60 anos são hoje 12,6% da população, segundo dados do IBGE (Brasil, 2010). Além disso, essa fatia da população está economicamente muito mais ativa que em outras épocas da história.
Estes fatores conjugados constroem um quadro novo dentro das sociedades contemporâneas onde a velhice passa a ser vista com outros olhos e ganha novos nomes. Aqui encontramos a segunda forma de preconceito, travestida pela suavização do conceito.
Na “moderna pedagogia” da terceira idade criam-se atividades exclusivas para os velhos que vão da universidade às academias de dança, deixando de lado o fato de que o enriquece a vida é exatamente o contato com as outras gerações, os novos amigos, o fazer e trocar experiências distintas.
A invenção da terceira idade revela uma experiência inusitada de envelhecimento, cujo entendimento não pode ser reduzido apenas aos indicadores de prolongamento da vida na sociedade contemporânea, mas fala claramente de uma nova “comunidade de aposentados” relativamente significativa para a sociedade geral, em termos de condições físicas, psíquicas e financeiras. Pessoas dispostas a tornar reais as expectativas de que essa etapa da vida é propícia às realizações e satisfações pessoais que outrora foram relegadas a segundo plano (Debert, 1999).
Alguns autores chegam até a falar de uma descronologização da vida contemporânea, dada a uniformização de práticas e expectativas entre diferentes etapas da vida e categorias de idade. Enquanto na pré-modernidade a idade cronológica é menos relevante que o status da família na determinação do grau de maturidade e dos recursos de poder, a modernidade apresenta a vida estritamente dependente do cronos e a pós-modernidade opera a desconstrução do curso da vida em nome de um estilo unietário.
Fenômenos como a dispersão de conteúdo eletrônico e seus impactos na vida cotidiana, a informatização da economia e a fluidez e multiplicidade de estilos de vida, frutos de uma sociedade muito mais ancorada no consumo do que na produtividade, corroboram para esse embaçamento das classes de idade. O que acaba por transformar a idade cronológica em um poderoso mecanismo de criação de atores políticos, bem como definidor de novos mercados de consumo.
Norbert Elias (1992) analisa que entre a sociedade da nobreza que se compunha de guerreiros e a doutrina rousseauniana da piedade e da comiseração, emergiu um sentimento de “compartilhamento” do sofrimento de todo e qualquer ser vivo. Sentimento até então ausente na sociedade, pois o sofrimento e a miséria eram estados da natureza. Na constituição das sociedades modernas a ideia do homem despossuído passa a figurar como um incômodo que o Estado deve enfrentar e eliminar. Por essa lógica a velhice, a loucura e outros males passam a ser objeto do cuidado e da assistência do poder público.
No entanto, mesmo essa dimensão cuidadora parece ficar eclipsada com o neoliberalismo, transformando os novos governos em baluartes da sociedade do espetáculo, que prega o ideário de sujeitos jovens, felizes e eficientes, relegando à condição de excluídos da polis aqueles cujas formas e aspecto não se enquadram nos padrões de perfeição contemporâneos. Não raro estes podem ser alvo de programas assistencialistas que muitas vezes não resgatam a cidadania, mas promovem a manutenção da exclusão e da alienação.
Muito acreditam que as imagens e formas de gestão da velhice na contemporaneidade reescrevem e modificam os estereótipos pelos quais o envelhecimento é tratado, desestabilizando imagens culturais tradicionais, apresentando um quadro mais positivo do envelhecimento, que passa a ser concebido como uma experiência na qual a doença física e o declínio mental, considerados fenômenos normais nesse estágio da vida, são redefinidos como condições gerais que afetam as pessoas em qualquer fase. Dessa maneira, abrem espaço para que novas experiências de envelhecimento possam ser vividas coletivamente.
É evidente que esta maneira de pensar a velhice é uma visada bastante otimista da sociedade atual, que não apenas permite, mas também encoraja a diferença. Além de incorrer no risco de fazer coro com as correntes interessadas em transformar o envelhecimento em mercado de consumo, através da promessa que a velhice pode ser eternamente adiada com a adoção de estilos de vida e formas de consumo adequadas. Como afirma Debert (1999) as oposições entre “velho jovem” e “velho velho” são formas de estabelecer laços simbólicos entre indivíduos, criando mecanismos de diferenciação, em um mundo no qual a obliteração das fronteiras entre grupos é acompanhada da afirmação, cada vez mais pregnante, da heterogeneidade e das particularidades locais.
A autora defende ainda que o fato dos velhos constituírem o grupo que possui a maior disponibilidade para o consumo, aliado ao imaginário (atual) da velhice como momento privilegiado para realização pessoal, e à concepção autopreservacionista do corpo, que não apenas responsabiliza os sujeitos por sua imagem, como convoca-os a conservarem seus corpos belos e “jovens” como requisito para exposição dos mesmos na sociedade, dão os contornos da socialização e reprivatização da velhice no contexto brasileiro.
Uma atualização da “conspiração do silêncio” descrita por Simone de Beauvoir, agora travestida de positivação do envelhecimento, que tanto exclui e reduz a subjetividade do sujeito idoso, quanto o fazia o silêncio imposto pela sociedade moderna que temia a morte acima de qualquer coisa, a ponto de evitar sequer falar da finitude da vida.
Como argumenta Arendt (1972), cabe aos mais velhos dar ao novo e, portanto, estranho ser que acaba de chegar ao mundo, os elementos que o instituirão na cultura. Assim, caberia aos mais velhos a tarefa da transmissão. Mas, tratando-se de relações igualitárias – nas quais não só na família, mas também na escola, as diferenças inter-geracionais parecem desaparecer, e pais e filhos, professores e alunos se tratam de igual para igual em nome da democratização destas relações –, que transmissão é possível? Onde, neste caso, se apoia, simbolicamente, a transmissão? Se é que a mesma ainda resta possível.
De ambos os lados da moeda-, o isolamento pelo medo da morte, ou a pasteurização da velhice através do prolongamento da juventude, e não obstante a cultura da sociedade unietária, observamos ainda muito preconceito velado em relação ao velho, fruto de uma sociedade marcada pelos corpos eficientes, magros e jovens. Preconceito esse que se oculta por trás dos novos nomes dados à velhice, como “terceira idade” ou “melhor idade”. Produtos desta sociedade do espetáculo que, ancorada na massiva difusão da indústria cultural, desacostuma o nosso olhar em relação à feiura: gordos, pobres, velhos e loucos,- novos párias sociais!
O trabalho do negativo na velhice
À medida que o sujeito envelhece ele costuma apresentar um progressivo desinvestimento libidinal das coisas do mundo com consequente investimento no próprio sujeito. Uma lógica semelhante é detalhada por Freud (1914) no texto sobre o narcisismo. O inventor da psicanálise afirmava que em alguns casos de doença orgânica a libido direcionada para o mundo externo regride ao eu como suporte à condição sofrente.
O corpo, na velhice, é o lugar privilegiado de desilusão narcísica, prometido à decadência, é palco do adoecer, empurrando o sujeito para o desafio de manter a aposta na vida. Uma vez que a libido agora se encontra escassa e o sujeito necessita de um mínimo de investimento narcísico para sobreviver, ele retira parte, ou toda nos casos mais graves, libido do mundo externo e passa a se interessar cada vez mais por suas memórias, suas fantasias e suas próprias dores, que usualmente são várias e frequentes.
Alguns fenômenos típicos da velhice como o retraimento de interesses, um certo egoísmo e a despreocupação com os fenômenos ao seu redor são confirmações desse remanejamento libidinal para o próprio eu (Gabbay, 1999). Tentaremos aqui traçar um paralelo entre esse desinvestimento narcísico e o trabalho do negativo, especialmente no tocante à função desobjetalizante da pulsão.
André Green (2009) define como trabalho do negativo o conjunto de operações psíquicas que tem como protótipo o recalque, e como variações a negação, o desmentido e a foraclusão. O trabalho do negativo se estende ao conjunto das instâncias do aparelho psíquico; id, ego e superego. Entre os dois extremos do recalque bem constituído à radicalidade da foraclusão, o trabalho do negativo pode seguir caminhos intermediários como a clivagem e a denegação.
Green (1988) entende que em muitos casos, tanto no âmbito normal quanto patológico, não podemos considerar todo o trabalho psíquico que se elabora ali, como sendo determinado exclusivamente pelo jogo pulsional. Nos parece certo que a parte assumida pelo objeto nessa elaboração configura-se como um fator de interferência que entra em jogo na constituição da subjetividade por efeitos fora do comum. Se o objeto é responsável por conter e estimular a pulsão, essa dupla ação só se torna possível a partir de um trabalho do negativo estruturante.
Freud (1925) em seu texto sobre “A negativa” afirma que o pensamento tem a capacidade de apresentar à mente aquilo que foi percebido outrora, reproduzindo-a por uma representação sem que o objeto externo deva estar necessariamente presente. É a passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. O momento onde o sujeito percebe que não é importante, somente, que ele possua um atributo “bom” e que o integre ao seu ego, mas que, esse atributo corresponda a uma coisa no mundo externo e que dela possa se apossar quando necessário. Green (1988) comenta ainda que a expulsão do mau permite a criação de um espaço interno no qual o eu, como organização, pode nascer para a instauração de uma ordem fundada no estabelecimento de ligações relacionadas a experiências de satisfação. Essa organização facilita o reconhecimento do objeto em estado separado no espaço do não eu e o seu reencontro.
Nesse sentido, Roussillon (2010) comenta que o trabalho de transformação da experiência primária, através da simbolização, à qual trataremos mais adiante, tem uma dupla função de transformá-la em algo apropriado pelo sujeito, e torna-la perdida para sempre, na medida em que ela transforma o próprio sujeito. Aqui podemos lembrar Heráclito quando afirma que “nenhum homem pode atravessar o mesmo rio duas vezes, porque nem o homem nem o rio são os mesmos”.
As investigações de André Green sobre o trabalho do negativo o conduziram à clínica do vazio, onde se encontra uma espécie de mistura de desinvestimento, de destrutividade inaceitável e de identificação com um objeto destruído pela separação. Esse desinvestimento narcísico nos parece claro em muitos casos de idosos cujo interesse pelo mundo exterior cai drasticamente com a chegada da aposentadoria e o alijamento do universo do trabalho. De modo que tentaremos interpor aqui as considerações sobre os estados narcísicos e a dinâmica do envelhecimento, especialmente dos sujeitos do sexo masculino, pois nos parece que a mulher idosa encontra meios mais positivos para lidar com essa nova realidade.
O sujeito que sofre algum tipo de perda realmente significativa para sua economia libidinal; seja um amor, um ideal, ou uma capacidade. Encontra-se obrigado pelo teste de realidade, a um trabalho lento e penoso de desligamento do objeto amado. Freud (1915) escreve que durante este processo o sujeito em luto direciona a maior parte de seus pensamentos (quando não todos eles) para o objeto perdido, com o intuito de mantê-lo próximo de si, ainda que seja só por mais algum tempo. A libido objetal que se direcionava para o mundo externo é revertida para o eu como forma de dar a mesma novo sentido, pela via das novas identificações que se formarão a partir de então. Identificações essas que têm por função desinvestir cada lembrança e cada afeto relacionados ao objeto faltante.
As condições muitas vezes limitadoras do “ser velho”, somadas às perdas reais de pessoas, de forças, de saúde, às perdas imaginárias de amor, de tempo, de vida e às perdas simbólicas que falam do status subjetivo, dos papéis sociais e do lugar na família, constituem um emaranhado de objetos faltantes dos quais o sujeito terá que se separar psiquicamente, não sem um cadinho de elaboração, caso possua meios para tanto, e de sofrimento.
Segundo aponta Zornig (2008), esse desinvestimento trata de uma perda experimentada em âmbito narcísico e não edípico, pois ocorre uma descatexia central do objeto primário materno. Aquilo que Green (2009) denomina de complexo da mãe morta refere-se a uma depressão que tem lugar na presença do objeto, onde a tristeza da mãe e a diminuição de seu interesse pelo seu bebê estão em primeiro plano. Esta indicação enfatiza a sutileza da relação mãe-bebê, que pode funcionar como um referencial de base afetiva ou ser pautada pela vivência de ausência e de vazio.
Virginia Woolf narra o desencanto provocado pelo desencontro subjetivo da imagem corporal com o inconsciente que a determina em seu conto da Dama no Espelho. Seu rosto transformara-se na máscara de uma velha. Ao continuar se olhando, teve a sensação de ser alguma coisa seca por fora, como um figo seco, incapaz de produzir admiração ou prazer. Internamente, não se sentia uma fruta fora da estação, como se percebia externamente (Woolf, 2005).
O trabalho do negativo pode ser entendido como expressão da pulsão de morte, de sorte que sua tarefa consiste nas atividades de negativização, de rompimento, desligamento e desobjetalização. Green (1988) comenta que para poder dizer sim a si mesmo é preciso poder dizer não ao objeto. É através deste ato de dizer não que os limites psíquicos podem se estabelecer, favorecendo a capacidade de representação e a constituição subjetiva. Mendes e Gracia (2012) acrescentam que o conceito de trabalho do negativo traz a ideia de que toda negação pode ser estruturante ou patológica dependendo em que condições e em que contexto este “não” se dá.
Negar a finitude da existência, distanciar-se do convívio social cada vez mais exigente com um corpo e espírito alquebrados, parece uma forma muito interessante de aplicação do trabalho do negativo.
No texto Reflexões para os tempos de guerra e morte, Freud (1915) apresenta-nos sua preocupação para com o tema da morte, já que como “criaturas civilizadas, tendemos a ignorar a morte como parte da vida”. Como Freud mesmo nos fala nesse texto, na verdade, nenhum de nós acredita na própria morte e nem mesmo consegue imaginá-la.
Um ano antes, ao discorrer sobre a transitoriedade, Freud já nos avisara que exigência de imortalidade, por ser tão obviamente um produto dos nossos desejos, não pode reivindicar seu direito à realidade (Freud, 1915). Todos nós padecemos do medo da perda dos nossos objetos de investimento afetivo. A perda relaciona-se em última análise com o receio da morte, ou seja, a perda da existência (Vilhena et al, 2013).
As operações negativizantes, colocadas em cena pela pulsão de morte através da função desobjetalizante, não comportam uma dimensão puramente destrutiva, mas são também fundamentais no trabalho do negativo em sua função de estruturar os limites intra e inter-psíquicos e os processos de simbolização. Quando bem sucedidos favorecem processos sofisticados como a construção de representações, a simbolização e a abstração; processos esses que se constituem como fundamentais a uma teoria sobre o pensamento (Garcia e Damous, 2009).
O objetivo objetalizante (besetzung) das pulsões de vida ou de amor tem como principal consequência realizar, pela mediação da função sexual, a simbolização. A ausência de simbolização se configura como uma forma de resistência, uma forma de oposição ao processo psíquico. Aliada ao trabalho de preservação das poucas energias restantes na última fase da vida, o trabalho de desinvestimento libidinal pode se configurar com uma possível saída, defesa contra o inevitável.
Aproveitar esse distanciamento que a velhice traz em relação ao cotidiano e suas pressões deve ser algo valioso para os velhos e não pode ser tido como sinônimo de incapacidade e signo de exclusão. Por que nossa cultura valoriza tanto o brincar da criança, que se retira da realidade para uma área de experimentação e construção imaginária, e não consegue aceitar que o adulto possa também necessitar desta mesma imersão na fantasia quando atinge determinada idade?
Incentivar essa melhor aceitação das novas possibilidades na velhice não deve ser confundido com a infantilização do velho. Pois isso seria equivalente a colocar o adulto jovem em posição superior de conhecimentos e discernimento, como acontece realmente com a criança. Tal postura desconsidera todo arcabouço de conhecimentos e experiência que a velhice proporciona, o que definitivamente é um equívoco.
Simbolizar a ausência para sobreviver
Roussillon (2013) afirma que a simbolização passou a ser uma questão problemática dentro da teoria psicanalítica na medida em que se percebeu que nem tudo que o sujeito experimenta como vivência é automaticamente representado ou simbolizado. É preciso que exista certo trabalho psíquico na direção do objeto e sua relação com o sujeito.
O autor define que a simbolização leva a uma espécie de representação do processo psíquico que ocorre em três tempos distintos e sucessivos. O primeiro no qual a experiência subjetiva é capturada psiquicamente e inscrita, um segundo tempo no qual a experiência é ligada afetivamente e simbolizada enquanto representação coisa, ou seja, neste processo o traço primário é religado à representação coisa. E uma última etapa onde a representação coisa é religada a representação palavra, sendo transferida para o aparelho de linguagem e ganhando um sentido próprio, que se pode dizer único, para o sujeito (Roussillon, 2013).
Na prática podemos ver isso ocorrer com idosos quando dizem que “palavras são tudo o que me restam”. Quando narram suas histórias para os mais novos, muitas vezes pouco interessados em escutar, como forma de reviver e recuperar um passado perdido.
Um exemplo interessante da capacidade da representação palavra para manter o afeto ligado ao traço primário pode ser visto nas diversas oficinas de palavras com idosos. Cuja proposta é fazer o idoso falar de seu cotidiano, e paulatinamente ir se apropriando, através da fala, das suas lembranças, primeiro as recentes, passando pelos eventos anteriores até chegar aos conteúdos infantis de cada participante. Este trabalho, realizado em grupo operativo, tem a função de preservar a sanidade e a memória do idoso.
Parece fundamental para o nosso estudo compreender que os modos elaborados de simbolização podem se dar na ausência do objeto simbolizado, desde que um trabalho de simbolização primário tenha sido efetuado, tendo como condição prévia o encontro do sujeito com o referido (representado) objeto.
No caso específico do envelhecimento faz todo sentido pensar que o velho têm condições de enriquecer o seu mundo interno com representações das coisas que ficaram perdidas ao longo do processo de envelhecimento, simbolizando e historicizando as ausências/faltas.
Representar é apresentar de novo, é situar dentro do tempo e da história a experiência subjetiva, permitindo que a experiência emocional não mais atravesse a psique se estar subjetivamente ligada e religada aos objetos. O processo de representação dá condições para que o sujeito se aproprie disso que o constitui e os modos pelos quais transforma aquilo que encontra em seu caminho. Em outras palavras, Roussillon (2013) dirá que o processo de simbolização começa après-coup, quando o sujeito pode dar a si mesmo uma cópia, uma espécie de “apresentação” daquilo que aconteceu em sua própria vida.
Em psicanálise acredita-se que o sujeito se apropria de sua condição sempre de forma peculiar, e só a análise da narrativa particular daquele sujeito é capaz de deslindar os meandros do seu sintoma. Em tempos de patologização da normalidade, o fenômeno biológico do amadurecimento ganha status de doença e promove efeitos sintomáticos particularizados nos velhos. Daí a necessidade, mais uma vez, de se colocar em palavras estes efeitos com o objetivo de descontruir ou reelaborar as angústias e dores advindas da condição de estar velho (Vilhena et al, 2013).
De preferência, que esta elaboração ocorra sem cair na noção de estigma ou doença e tampouco sem a tentativa de suavizar uma condição natural, que naturalmente traz mais dificuldades ao sujeito, dando-lhe novos nomes que não façam jus a seu status, tal como a nomenclatura “melhor idade”.
____________________________________________________________
Referências
Benjamin, W. (1936). O Narrador. In: Obras escolhidas 1. São Paulo: Brasiliense.
Benjamin, W. (1933). Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas 1. São Paulo: Brasiliense.
Debert, G. (2004) A Reinvenção da velhice. São Paulo. EDUSP.
Elias, N. (1992) A solidão dos Moribundos. Rio de Janeiro, Zahar.
Foucault, M. (1977) A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.
Freud, S. (1914) Sobre o Narcisismo: uma introdução. In: Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas deSigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago. Vol. XIV. 2000.
Freud, S. (1915) Reflexões para os tempos de guerra e morte - II: Nossa atitude para com a morte. In: Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas deSigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago. Vol. XXII. 2000.
Freud, S. (1925) A negativa. In: Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas deSigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago. Vol. XIX. 2000.
Gabbay, R. (1999) Considerações sobre psicanálise com idosos. Anais da Primeira Jornada de Psicanálise com Idosos e suas Interseções, p. 31-31. Rio de Janeiro: Escola Brasileira de Psicanálise Movimento Freudiano.
Garcia, C. A.; Damous, I. (2009) O silêncio no psiquismo: uma manifestação do trabalho do negativo patológico
Gebran, P. (1999) Velhos nas sociedades ágrafas. Anais da Primeira Jornada de Psicanálise com Idosos e suas Interseções, p. 20-30. Rio de Janeiro: Escola Brasileira de Psicanálise Movimento Freudiano.
Geertz, C. (1996) Representações simbólicas. Rio de Janeiro, Zahar.
Green, A. (1988) Seminário sobre o trabalho do negativo. Anexo 3. In: Green, A. O trabalho do negativo. Porto Alegre: Artmed, 2009.
Green, A. (2009) O trabalho do negativo. Porto Alegre: Artmed.
IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br>.
Mendes, L. C.; Garcia, C. A. (2012) Os destinos do trabalho do negativo nas patologias limítrofes. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 277-292, ago. 2012.
Rosa, C. M.; Zamora, M. H. (2012) Usos da internet: algumas reflexões ético-políticas. Revista Polêm!ca, v. 11, n. 4.
Roussillon, R. (2010) A capacidade de criar e a exigência de criar. Jornal de Psicanálise, v. 43(79), p. 237-256.
Roussillon, R. (2013) Le processus de symbolisation et ses étapes. Disponível em http://psycho.univ-lyon2.fr/sites/psycho/IMG/pdf/doc-226.pdf acessado em 11 de junho de 2013.
Vilhena, J.; Rosa, C. M.; Novaes, J. V. (2013) Para além dos anos vividos. Uma leitura das categorias clínico-discursivas acerca da velhice. In: Pocinho, R., Santos, E. (orgs) Envelhecer hoje, conceitos e praticas. Coimbra, Legis.
Vilhena,J. & Novaes,J.V. (2009) Un corps à la recherche d'un logement.Corps, violence et médecin.In : Masson,C. & Desprat-Pequignot.C (orgs) Le corps contemporain : créations et faits de culture. Paris, L´Harmatan. pp – 113-136
Woolf, V. (2005) A Dama no Espelho: Reflexo e Reflexão. Contos Completos. São Paulo. Cosac Naif.
Zornig, S. M. A. (2008) A corporeidade na clínica: algumas observações sobre os primórdios do psiquismo. Rev. do Tempo Psicanalitico, v.40.2.
_________________________
Recebido em: 09/01/2014
Aceito em: 17/01/2014