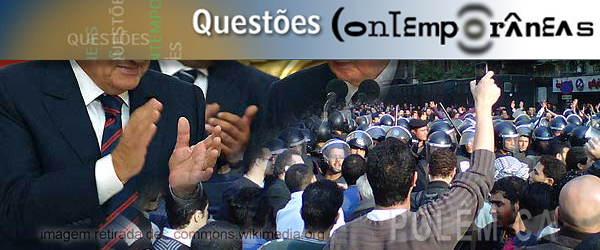
CONSEQUÊNCIAS ÉTICO-POLÍTICAS DE UMA PROMESSA DE INSERÇÃO SOCIAL NÃO REALIZÁVEL: OS JOVENS INDIGNADOS
Resumo: Este artigo visa analisar o panorama geral da situação da juventude, especialmente em contextos de pobreza e agravamento da questão social, isso significa considerar a dimensão funcional da chamada “síndrome consumista”, uma vez que esse segmento fomenta e impulsiona o desempenho da economia capitalista no quadro engendrado no pós-neoliberalismo, colabora com essa economia e dela participa. Nesse sentido, não seria demais falar num engendramento que leva a uma economia política do consumo, regulando, organizando e determinando a vida social de acordo com seus padrões políticos, ideológicos e econômicos.
Entretanto, o artigo vai salientar os efeitos colaterais desse processo, afirmados no quadro de uma promessa de inserção social não realizável. Violentos exemplos desses efeitos têm sido vistos no Egito, na Líbia, na Inglaterra, na Grécia e na Espanha, assim como ocorreu em 2005, quando os Estados Unidos e a França enfrentaram revoltas juvenis de inegável impacto ético-político.
Palavras-chave: Juventude, políticas públicas e consumo.
ETHICAL AND POLITICAL CONSEQUENCES OF A PROMISE OF SOCIAL INCLUSION IS NOT FEASIBLE:
YOUNG OUTRAGED
Abstract: His article aims to analyze the overall picture of the situation of youth, especially in contexts of poverty and worsening social issue, this means considering the functional dimension of the “consumerist syndrome”, since this segment promotes and boosts the performance of the capitalist economy in framework devised in the post-neoliberalism, collaborates with this economy and it participates. In this sense, would not be stressed enough that leads to a begetting a political economy of consumption, regulating, organizing and determining the social life according to their political standards, ideological and economic.
However, the article will highlight the side effects of this process, affirmed under a promise of social inclusion is not feasible. Violent examples of these effects have been seen in Egypt, Libya, England, Greece and Spain, as occurred in 2005 when the United States and France faced revolts juvenile undeniable impact ethical and political.
Keywords: Youth, politic public and consumption.
INTRODUÇÃO
Considerados internacionalmente militantes de um novo terrorismo mundial, os jovens reagem ao modelo que os empurra para uma sociabilidade consumista, paradoxalmente saqueando lojas de departamentos e incendiando automóveis de luxo.
Cabe elucidar e entender esse fenômeno sob um ponto de vista que ultrapasse as versões pouco neutras na mídia mundial, para quem os jovens não passam de baderneiros e oportunistas. As análises feitas por Wacquant (2005) acerca das banlieues da região parisiense mostram pistas importantes, quando revelam que a concentração de pessoas com menos de vinte anos é representada por 46% da população, isto é, quase a metade de seus habitantes. Ao mesmo tempo, mostram também que, entre 1968 e 1984, La Courneuve perdeu mais de 10 mil postos de trabalho operário, enquanto o número de empregos industriais na aglomeração parisiense diminuiu, no mesmo período, em 280 mil. Assim como nas favelas do Rio de Janeiro, a banlieue é percebida por Wacquant como um território que tende a concentrar e acumular “minorias”, desemprego e baixos salários, que resultam em pobreza e desarticulação.
O autor expõe o processo de estigmatização aberto e sufocante que marca aqueles que residem nesses locais. Para se fazer referência a banlieue,são empregadas representações e autorrepresentações como “bairro do medo”, a “lixeira de Paris”, uma “jaula de animais” (Avery apud Wacquant,2005, p.122). No Brasil, é possível encontrar uma enorme e, vale dizer, agravada similitude dessa caracterização com a juventude das favelas. Para esses locais, representações e autorrepresentações como “área de risco”, “zona perigosa, de gente perigosa” são recorrentes nas falas do poder público, da mídia e de seus próprios habitantes.
Concordando com isso, Bauman aponta o reaparecimento do termo “subclasse”, cujos membros são sujeitos considerados inúteis. De acordo com o autor,
São consumidores falhos, símbolos ambulantes dos desastres que aguardam os consumidores decadentes e do destino final de qualquer um que deixe de cumprir seus deveres de consumo. São homens-sanduíche, que, enquanto andam pelas ruas, portam cartazes como ‘o fim está próximo’ ou ‘memento mori’, para alertar ou assustar os consumidores de boa-fé. São os fios com os quais são tecidos os pesadelos – ou, como preferiria a versão oficial, ervas daninhas, feias, porém vorazes, que nada acrescentam à harmoniosa beleza do jardim e deixam as plantas famintas ao sugarem e devorarem grande parte de seus nutrientes
(2008, p. 158).
Nessa dura apresentação, Bauman descortina a realidade de um segmento na contramão das transformações societárias, das consequências destas em termos da reconfiguração das necessidades sociais.
Fica evidente que tal realidade denota novas exigências para o Estado, obrigando-o a oferecer novas respostas. Curiosamente, num levantamento das principais políticas públicas voltadas para a juventude da banlieue, na França, em comparação com a juventude da favela, no Brasil, encontram-se os mesmos eixos norteadores: 1) as políticas educacionais (acesso à educação, evasão escolar, repetência e violência); 2) a família e como ela se torna alvo das políticas públicas na mediação com os jovens e o Estado (responsabilização da família, suportes públicos para a socialização dos jovens e violência); e 3) o mundo do trabalho e a juventude (primeiro emprego e políticas de qualificação).
Como se sabe, uma comparação direta e sem filtro de conceitos entre as realidades em tela não seria correta. A comunidade da banlieue, a despeito do aumento contínuo do desemprego, apresenta condições de vida incomparavelmente superiores em relação ao que se percebe nas favelas no Brasil. Na França, a gestão do espaço e da população é objeto de um enquadramento político-administrativo infinitamente mais sólido do que o produzido no Brasil. Muitas vezes, os projetos franceses inspiram o Estado brasileiro a promover ações dessa natureza.
Porém, os impactos da nova fase da economia mundial produziram na França uma realidade muito próxima àquela que se vê há muito mais tempo em nosso país. Por exemplo: analisando as políticas públicas desenvolvidas na década de 1990 para o segmento jovem, observa-se na região de Saint-Denis uma história marcada por um forte processo industrial e, portanto, uma grande demanda por força de trabalho. Com as transformações do mundo do trabalho e a decorrente reestruturação da produção, essa região foi seriamente tocada. Segundo Le Centre de Ressources en Siene-Saint-Denis, em 25 anos, 100 mil empregos desapareceram, o que correspondia à ocupação de 41,2% da população ativa de 1975. Esse processo veio acompanhado de um correspondente crescimento do setor de serviços, e o declínio da indústria firmou-se como tendência até os dias atuais, fazendo agravarem-se as condições de precariedade, desemprego e alta concentração de estrangeiros, representados principalmente por pessoas vindas da Argélia e de Portugal.
Em 2005, a população jovem local era representada por 29,1%, ou seja, um segmento bastante significativo (INSEE, 2005). Ainda segundo os dados do Le Centre de Ressources em Siene-Saint-Denis, a taxa de desemprego era de 13,3% ao terceiro trimestre daquele ano, contra 9,5% em Île-de-France, o que representava 4% a mais de desempregados que nessa região e quase 3% a mais que em Paris.
Da mesma maneira que nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, o local em que se reside não é o mesmo no qual se trabalha, e a ocupação informal cresceu significativamente nos anos recentes. O eixo dos investimentos em políticas públicas nessas localidades coincide com o que encontramos no Brasil, predominando as políticas de qualificação profissional e as de geração de renda.
No Brasil, nota-se que, em grande parte dos programas sociais para a juventude, os próprios jovens são convocados a, individualmente, responder por sua condição social de desempregado, não escolarizado, repetente. Não há previsão orçamentária de custeio das políticas públicas voltadas a esse segmento, nem previsão de formas de avaliação de seu impacto e de seus resultados.
O caráter focalizado dos projetos sociais dilui a perspectiva da universalidade intrinsecamente relacionada à noção de cidadania; assim, muitas vezes, os jovens têm de passar o chamado “atestado de pobreza” para ter acesso ao que se oferece. A análise dessas políticas sociais revela um grande silêncio em relação às prerrogativas básicas para o sucesso de uma política pública: construção e investimento em estrutura física; material adequado à especificidade desse público; e concurso público, para a formação de equipes multiprofissionais capazes de dar conta da complexidade objetiva e subjetiva que envolve as demandas juvenis na atualidade.
A inexistência dessas condições aparece numa realidade marcada por atraso de pagamentos de bolsas e de salários, pela força de trabalho voluntária e precária, por prédios e edificações inadequados e sem condições de abrigar o trabalho com os jovens e pela desqualificação social, cultural e estética dos projetos.
Por outro lado, tais programas frequentemente exercem uma função essencial para a preservação da ordem social da cidade, pois, muitas vezes, colaboram para o confinamento desses jovens por todo um turno diário. Além disso, para permanecer nesses programas, os jovens têm de, obrigatoriamente, frequentar a escola, a qual, por sua vez, guarda forte similitude com as condições que caracterizam os projetos. Assim, eles são mantidos sob controle e sob vigilância institucional, em ambientes que dificilmente realizam a tal promessa de integração tal como aparece no discurso oficial.
Análise semelhante a essa é feita por Wacquant, em sua reflexão sobre os diversos aspectos que levaram a sociedade americana ao que ele identificou como hiperguetificação, ao elencar suas causas aponta que:
A mais óbvia dessas causas, embora não necessariamente a mais importante, é a transformação da economia americana de um sistema ‘fordista’ fechado, integrado, centrado na fábrica, que abastecia um mercado de classe uniforme, para um sistema mais aberto, descentralizado e intensivo em serviços, montado para atender a padrões de consumo crescentemente diferenciados.
Um segundo fator, com muita frequência desprezado, é a persistência da quase total segregação residencial dos negros e a deliberada concentração das moradias públicas nas áreas negras mais pobres das grandes cidades, o que significa um sistema de apartheid urbano.
O terceiro fator é a deteriorização de uma previdência social já mesquinha desde meados dos anos 1970, combinada com crises cíclicas da economia norte-americana, o que contribuiu para garantir o aumento da pobreza nas zonas centrais.
O último é a reviravolta das políticas urbanas federais e municipais das duas últimas décadas, que levou ao ‘encolhimento planejado’ dos serviços públicos e das instituições do gueto
(2005, p. 69).
Outros estudos evidenciam que a desigualdade social vivenciada pela juventude confronta e amedronta esses jovens, causando sensações individuais e coletivas de revolta e angústia. Esses ingredientes são sistematicamente reforçados pelo preconceito em relação ao seu local de moradia, de tal forma que esse local pode dizer muito da vida social de cada jovem e determinar o tipo de aceitação que se poderá perceber nos grupos, nas redes sociais e no mercado de trabalho. Morar numa favela no Rio de Janeiro, na banlieue, em Paris, num conjunto de habitação popular em Londres, ou num bairro negro do chamado “gueto” americano é, invariavelmente, sinônimo de dificuldade para conseguir emprego e amigos de outros círculos sociais e pode levar a constrangimentos junto ao aparato policial.
Os conflitos que recentemente transformaram o Reino Unido num palco de violentos confrontos exemplificam bem esse fato. Exibindo uma manchete em letras garrafais, a edição do jornal O Globo de 14 de agosto de 2011 bradava: “Londres, cidade partida: versão local das favelas, conjuntos habitacionais são focos de violência e pobreza”.
Evidenciando dados da realidade da juventude residente nos conjuntos de habitação popular, a matéria declarava que, a partir dos anos 1980 – que coincidem com a implementação do neoliberalismo de Margareth Thatcher –, houve um flagrante declínio da qualidade de vida nesses locais, que passaram a ser habitados quase exclusivamente por imigrantes, o que configurava um claro apartheid social.
Segundo os dados levantados pelo jornal junto ao Centro de Estudos Britânicos Fabian Society, em comparação à média britânica, pessoas que nasceram em conjuntos habitacionais depois de 1970 têm duas vezes mais chances de desenvolver problemas mentais, 11 vezes mais chances de estar fora da escola e nove vezes mais chances de estar desempregadas. De acordo com o mesmo estudo, o declínio na qualidade de vida, também acirrado pela falta de investimento público regular, alimentou a violência. O jornal ainda publicou a fala de Raz, de 17 anos, morador de um conjunto em Tottenham: “–A polícia nos trata como vermes, especialmente nós, os negros”.
Mas o quadro dos conflitos não acaba aí: o Oriente se revolta contra as ditaduras corruptas e reivindica liberdade; estudantes de países latino-americanos, como Chile e Uruguai, mobilizam-se para protestar contra os recursos insuficientes para a educação; em Tel Aviv, clama-se por mais políticas sociais e menos gastos militares; e os protestos continuam em Atenas, Madri e Bombaim. Enfim, o panorama internacional denuncia a fragilidade dos tempos atuais, cujo desemprego juvenil chega a 40% na Europa.
Um dado geral dos conflitos chama atenção e merece destaque: no emblemático caso inglês, 1.700 pessoas foram presas nos acontecimentos de agosto de 2011; destas, oitocentas foram indiciadas, e 80% das que passaram por tribunais têm menos de 25 anos.
Na base desses eventos encontra-se a deteriorização das condições de vida e de oportunidades, causada pelo drástico plano de cortes com gastos sociais, desde a implantação dos ajustes de cunho neoliberal, a partir da segunda metade da década de 1970.
Sem um horizonte de oportunidades de trabalho e referenciados num plano de felicidade consumista, os jovens, inconformados, guardam um indisfarçável estranhamento frente aos frágeis programas sociais e percebem, na prática, sua ineficácia inerente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAUMAN, F. Vida para consumo. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998.
GROPPO, Luís Antonio. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes modernas. Rio de Janeiro: Difel, 2000.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS ECONÔMICOS. Disponível em http://www.insee.fr. Acessado em 20 abr. 2005.
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Trad. Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Record, 1999.
WACQUANT, Loïc. “Banlieues françaises et guetto noir américain: éléments de comparaison sociologique”. French Politics and Society, 1992, v. 10. n. 4, pp. 81-103.
------. “Banlieues francesas e gueto norte-americano: do amálgama à comparação”. Os condenados da cidade: estudos sobre marginalidade avançada. Trad. João Roberto Martins Filho. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan/FASE, 2005.
Recebido: 16/03/2012
Aceito: 31/03/2012