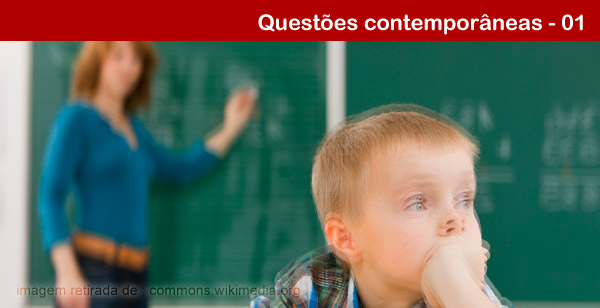
AS INCONSISTÊNCIAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE):
UMA OBSERVAÇÃO QUE DEMANDA ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE
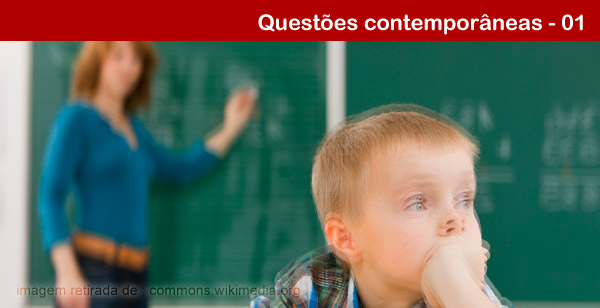
AS INCONSISTÊNCIAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE):
UMA OBSERVAÇÃO QUE DEMANDA ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR E INTERSETORIAL DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE
Antonio Benedito Lombardi
Mestre e Doutor em Medicina, área de concentração Saúde da Criança e do Adolescente. Psiquiatra da Infância e Adolescência. Professor Adjunto do Departamento de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Professor Adjunto (aposentado) do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: antonio.b.lombardi@gmail.com.Aline Emanuele Ferreira Oliveira
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Bianca Emanuelle de Souza
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Bianca Layne Gomes de Lima
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Cecília Tavares Barbosa
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Danielli Robadel Silva
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Mariane Aranjues Montoro
Graduanda de Medicina da PUC/MG.Ricardo Zenóbio Darwich Filho
Graduando de Medicina da PUC/MG.
Resumo: Na prática clínica observa-se que apenas crianças com quadros clínicos complexos (ex. Transtorno de Espectro Autista, Deficiência Mental) são contempladas com recursos garantidos pela educação inclusiva e deixado de lado, sem atendimento educacional adequado, um grupo numeroso de crianças com transtornos aparentemente “leves” (ex. Dislexia, Transtorno Desafiador de Oposição, Transtorno de Linguagem Receptivo), os quais, porém, causam impactos acadêmicos e não acadêmicos nessas crianças. O objetivo deste estudo é mostrar que a observação clínica acima origina-se de inconsistências na própria legislação que não assegura atendimento educacional especializado para as crianças portadoras destes quadros aparentemente “leves”. Para isto foi feita uma revisão da legislação brasileira atual norteadora da educação inclusiva, dos quadros clínicos referidos e sua prevalência. Os resultados mostram que a prevalência de transtornos “leves” é significativa, que a legislação não inclui estes quadros clínicos não garantindo, portanto, atendimento educacional especializado nestes casos, muito embora apresentem sintomas que interferem na vida escolar. Como o número de crianças portadoras desses quadros é expressivo, estima-se que muitas podem não estar sendo atendidas adequadamente pelo sistema educacional regular, o que pode agravar a sintomatologia primária e contribuir para o aparecimento secundário de sintomas comportamentais, emocionais e subjetivos. O texto reforça a necessidade de um trabalho conjunto entre o setor de saúde, responsável pelo diagnóstico dos quadros clínicos, e o setor educação, responsável pelas intervenções educacionais. Esta parceria poderá estimular a revisão da legislação e contribuir na elaboração de uma nova regulamentação que reoriente a assistência apropriada para cada caso.
Palavras-chave: Transtornos do Desenvolvimento na Criança. Transtornos de Saúde Mental na Criança. Educação Inclusiva. Intersetorialidade. Interdisciplinaridade. Exclusão Social.
THE INCONSISTENCIES IN THE LEGISLATION ON SPECIALIZED EDUCATIONAL ASSISTANCE: AN OBSERVATION THAT DEMANDS INTERDISCIPLINARY AND INTERSECTORAL ATTENTION OF THE EDUCATION AND HEALTH
Abstract: In clinical practice it is observed that only children with complex clinical conditions (such as Autism Spectrum Disorder, Mental Disability) are contemplated with the guaranteed resources from inclusive education. A group of children with disorders apparently “light” (such as Dyslexia, Oppositional defiant disorder, Receptive language disorder) are left aside, even though these disorders bring both academic and not academic impacts. The objective of this study is to show that the above observation is originated from inconsistencies in the legislation that does not assure specialized educational assistance to children with these light disorders. A literature review on the legislation that guides inclusive education, about the referred clinical pictures and their prevalence was made. The results show that the prevalence of these “light” disorders is significant, that the legislation does not include these clinical pictures, and as so does not guarantee specialized educational treatment, even though they present symptoms that interfere with school life. Since the number of children with these disorders is significant, it is estimated that many are not being appropriately treated by the regular education system, which may worsen the primary symptoms and contribute to the secondary appearance of behavioral, emotional and subjective symptoms. The text reinforces the need of a joint work between the health system, responsible for the clinical diagnosis and the educational sector, responsible for the educational interventions. This partnership will stimulate a review of the legislation and contribute in the elaboration of a new law guideline that reorients an adequate assistance to each case.
Keywords: Child Development Disorders. Child Mental Health Disorders. Inclusive Education. Intersetoriality. Interdisciplinarity. Social Exclusion.
Apresentação
A elaboração deste texto ganhou força durante o desenvolvimento da disciplina Práticas na Comunidade-II (crianças e adolescentes), desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde estudantes de medicina iniciam seus estágios no segundo período do curso de medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC), Betim-MG. Nesta fase do curso, uma das atribuições dos alunos é acompanhar consultas de crianças e adolescentes realizadas pelo professor de pediatria. Em uma dessas consultas foi atendida uma criança, sexo masculino, 8 anos, que cursava o 3º ano do Ensino Fundamental, que foi levado à UBS porque apresentava um quadro de dificuldade escolar e a mãe, uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), estava com muitas dúvidas e gostaria de esclarecê-las. Alguns fatos foram evidenciados neste atendimento:
I. Uma necessidade de estreitar a interlocução entre os profissionais de saúde e os da educação;
II. Embora a criança apresentasse um quadro muito sugestivo de Transtorno de Aprendizagem, com sintomas definidos aqui como “aparentemente leves”, mas com comprometimento subjetivo emocional, tudo indicava que havia necessidade de reavaliação tanto do planejamento educacional quanto à ação da saúde. Isto porque o planejamento que estava sendo oferecido até aquele momento por ambos os setores estava gerando muitas dúvidas.
Naturalmente, frente a situações como a do presente caso, surge a pergunta: será que um dos motivos para as dúvidas verificadas acima não estaria relacionado ao tipo de quadro clínico apresentado pela criança, cuja disfunção não garantia a ela, considerando as indicações da educação inclusiva (legislação atual), um atendimento diferenciado pelo menos em alguns aspectos psicopedagógicos?
As inquietações produzidas pelo presente caso associadas à experiência de um dos autores com o tema resultou na elaboração deste texto.
Introdução
Hoje vive-se novos tempos em termos de sociedade inclusiva, o que provavelmente resultará em mudanças promissoras, as quais poderão garantir a cidadania. Parâmetros importantes norteiam a vida em sociedade e práticas profissionais, como: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), a Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989), a Constituição da República de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (UNO, 2006) e, especificamente, várias declarações sobre a educação inclusiva como as de Salamanca (1994), Montreal, etc.
No Brasil, uma conquista importante das últimas décadas está relacionada ao ingresso das crianças na escola. Em 2011, 98% das crianças brasileiras de 6 a 14 anos estavam na escola (IBGE, 2012). Entretanto, identificam-se problemas ainda na educação infantil, no ensino médio, no ensino superior e nos cursos profissionalizantes no que se refere à oferta de vagas, a frequência, a evasão e o financiamento. Com relação à inclusão escolar, nesse mesmo período, várias decisões importantes foram tomadas e garantidas pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de implementar a Educação Inclusiva, as quais estão confirmadas no Plano Nacional de Educação atual (PNE-2014-2024). Enfim, caminhou-se muito.
Na medicina de crianças, mais especificamente na Pediatria, na Psiquiatria Infantil, na Neurologia Infantil, aconteceram vários avanços em termos de compreensão e sistematização de conhecimentos de problemas que afetam a saúde, o desenvolvimento e a saúde mental das crianças e adolescentes (REY, 2015). Isto tem auxiliado no planejamento das intervenções e no emprego dos diferentes recursos terapêuticos pelo setor de saúde, os quais, na grande maioria das vezes, não são recursos farmacológicos, apesar de todos os avanços na área dos medicamentos; são sim as intervenções pedagógicas, psicoterápicas, sociais, da terapia ocupacional e outras.
Do ponto de vista da Psiquiatria Infantil é importante destacar que cerca de 10 a 20% das crianças (WHO, 2001; REY, 2015) apresentam algum tipo de transtorno relacionado ao Desenvolvimento e à Saúde Mental. Em tempos de Educação Inclusiva estas crianças e adolescentes também estão se matriculando nas escolas regulares. Para este grupo portador de algum tipo de transtorno progredir na escola, é necessário a instituição de recursos pedagógicos próprios de uma educação inclusiva para todos. Isto se justifica porque Transtornos do Desenvolvimento e de Saúde Mental estão entre os inúmeros fatores de risco (HAHN et al, 2016) que predispõem os sujeitos a apresentarem dificuldades de aprendizagem. Entre estes transtornos pode-se citar o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Linguagem Receptivo e Expressivo, Dislexia, Discalculia, Transtorno Desafiador de Oposição e outros, chamados de transtornos aparentemente “leves”. Todos, porém, apresentam sintomas que interferem negativamente na vida escolar dos portadores e demandam assistência educacional inclusiva, o que, entretanto, na prática, não tem acontecido.
O objetivo deste estudo é mostrar que a observação clínica acima origina-se de inconsistências na própria legislação, que não assegura atendimento educacional especializado para as crianças portadoras destes quadros aparentemente “leves” e, assim, contribuir para incentivar um debate interdisciplinar relacionado à prática da educação inclusiva e à regulamentação dessa prática.
Para alcançar estes objetivos, a metodologia empregada foi uma revisão da literatura sobre a legislação brasileira atual norteadora da educação inclusiva, assim como uma revisão dos quadros clínicos referidos anteriormente e a prevalência dos mesmos.
A legislação vigente sobre educação inclusiva
A Educação Inclusiva não tem ocorrido satisfatoriamente porque apenas um público alvo está sendo contemplado com os recursos definidos pelo MEC. A Nota Técnica No 04/2014/MEC/SECADI/DPEE, do MEC, apresentada a seguir, esclarece esta afirmativa.
[...] dessa forma, a declaração dos estudantes público alvo da educação especial, no âmbito do Censo Escolar, deve alicerçar-se nas orientações contidas na Resolução CNE/CEB, no 4/2009, que, no seu artigo 4º, considera público-alvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE):
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade[...] (MEC, 2014).A realidade da saúde de crianças e adolescentes que são atendidas nos ambulatórios de saúde mental e de desenvolvimento
Quanto ao setor Saúde, apesar das enormes dificuldades ainda existentes na organização dos serviços, constata-se que a realidade dos atendimentos clínicos vai muito além, ao apontar para um panorama clínico muito mais complexo que os considerados acima no documento do MEC. A diversidade de quadros clínicos que são diagnosticados e acompanhados pelo serviço de saúde ultrapassa o que é garantido na legislação atual quanto à indicação de educação inclusiva. As crianças que apresentam os quadros que não foram citados no documento do MEC, ao ingressarem na escola, exibem também uma série de manifestações e ocorrências no que se refere à aprendizagem, ao comportamento, à expressão emocional, que demandam da escola uma atenção mais específica do ponto de vista de recursos pedagógicos, de conhecimento de desenvolvimento infantil e de saúde mental, e, muitas vezes, também de conhecimentos de assistência social. Frequentemente, é oportuno enfatizar, não são das salas de recursos multifuncionais que estas crianças estão necessitando, mas sim, do emprego de outras abordagens psicológicas e pedagógicas inclusivas que são solucionadas com recursos humanos em qualidade e quantidade. Obviamente, a falta de pessoal com este perfil amplia e dificulta muito o papel da escola, forçando-a a trabalhar além do limite tolerável.
O não atendimento às necessidades destas crianças e adolescentes aumenta o risco de agravamento dos problemas escolares e não escolares por causa de uma série de impactos secundários, entre eles os relacionados à subjetividade com todas as consequências advindas desse fato.
A seguir serão apresentados alguns sintomas de quadros clínicos frequentes na prática médica; porém, como a terminologia empregada na sistematização desses quadros clínicos tem sido usada de forma incorreta e nociva em relação ao portador da diferença, torna-se necessário citar a afirmativa abaixo para marcar a compreensão e preocupação dos autores no que se refere ao uso dessa terminologia:
Qualquer classificação dos transtornos mentais classifica síndromes e condições, mas não indivíduos. Os indivíduos podem sofrer de um ou mais transtornos durante um ou mais períodos de sua vida, mas um diagnóstico como rótulo não deve ser utilizado para descrever um indivíduo. Uma pessoa nunca deve ser confundida a um transtorno - físico ou mental (WHO, 2001, p. 21).
Com isto em mente, é oportuno, portanto, chamar a atenção para alguns quadros clínicos (REY, 2015; LOMBARDI, 2013) que são vistos nos ambulatórios do sistema público de saúde e nos consultórios privados cuja citação no documento do MEC não está clara, com margem para diferentes interpretações. Entre eles destacam-se:
I. Transtorno Específico de Linguagem Receptiva;
II. Transtorno Específico de Linguagem Expressiva;
III. Transtorno Específico Motor;
IV. Dislexia;
V. Discalculia;
VI. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);
VII. Transtorno de Conduta;
VIII. Transtorno Desafiador de Oposição;
IX. Transtornos como Mutismo Eletivo, Recusa Escolar (antes conhecido como Fobia Escolar);
X. Transtorno de Ansiedade;
XI. Transtorno Depressivo;
XII. E outros, como quando crianças são expostas desde cedo a uma série de experiências adversas, muitas delas causadas pela injustiça social, as quais produzem impactos biopsicossociais sobre os indivíduos; por exemplo, a Síndrome da Exclusão Social (LOMBARDI, 2011, 2013).
A Tabela 1 a seguir dá mais detalhes sobre estes quadros clínicos.
Tabela – 1: Transtornos e os sintomas mais frequentes
Fonte: Os autores.
Fica evidente nesta tabela que sintomas que fazem parte desses quadros clínicos podem interferir nas interações sociais e/ou na aprendizagem e deixar impactos subjetivos.
Não se pretende com esse texto descrever, com detalhes, a natureza de cada um desses transtornos, além do que foi apresentado acima, entretanto, é oportuno chamar a atenção para o fato de que crianças e adolescentes portadores desses quadros, mesmo quando estão fazendo o acompanhamento no ambulatório dos serviços de saúde, necessitam, simultaneamente, de um acompanhamento escolar diferenciado. Frequentar o serviço de saúde não garante o tratamento multiprofissional necessário para a melhora da sintomatologia. É preciso que a escola e família se envolvam concomitantemente no tratamento do ponto de vista psico-sociopedagógico.
A implementação dessa recomendação é perfeitamente viável na Atenção Primária (AP) que é um cenário criado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) propício para acontecer a parceria da Educação com a Saúde devido à proximidade da escola a uma UBS. Deve-se destacar que cada UBS é responsável pela assistência à população que reside no seu entorno, assim como é responsável pela assistência aos equipamentos sociais públicos, entre eles, como citado acima, as escolas que se localizam também nesse território.
A constatação da inadequação: confrontando as indicações de educação inclusiva garantidas pela legislação vigente e a realidade da saúde das crianças e adolescentes que são atendidas nos ambulatórios de saúde mental e de desenvolvimento
Os resultados dessa revisão da literatura mostram que a prevalência de transtornos “leves” é significativa, que a legislação não inclui estes quadros clínicos não garantindo atendimento educacional especializado nestes casos, muito embora apresentem sintomas que interferem na vida escolar.
De volta à prática clínica, como destacado anteriormente, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, depara-se com crianças que apresentam sintomas ligados aos quadros clínicos listados acima, as quais não estão recebendo atendimento adequado quanto aos recursos humanos, pedagógicos, materiais, etc., ou seja, parece que se trata de um público invisível. Todos os profissionais que trabalham na área da saúde e educação com este público sabem da sua existência, que se encontra entre dois extremos de um longo e complexo espectro. Em uma ponta desse espectro estão as crianças que vêm se desenvolvendo bem e na outra as crianças que apresentam transtornos mais complexos, como os citados pelo documento do MEC, para os quais é garantido o AEE. Muitas vezes, ouve-se a alegação de que crianças com quadros clínicos que se situam no meio desse espectro, chamados aqui de “aparentemente leves”, não possuem o direito, por lei, de um atendimento educacional inclusivo, que leve em consideração suas particularidades. Na Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2014, alguns desses quadros clínicos foram lembrados, quando então foi sugerido ampliar o atendimento incluindo esses casos, como, por exemplo, o do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dos Transtornos de Aprendizagem (como Dislexia, Discalculia, etc.). Infelizmente, estas propostas, apesar de terem sido lembradas na CONAE, efetivamente ainda não estão sendo contempladas no PNE (2014-2024).
Tanto os resultados da CONAE quanto do PNE são frutos do trabalho conjunto da sociedade organizada com o governo. Entretanto, verifica-se que muitos ajustes ainda precisam ser feitos. Neste sentido, como o PNE está em um movimento construtivo, acredita-se que este texto poderá servir de estímulo para as discussões.
Constata-se, portanto, que existem fragilidades e imprecisões na definição dos parâmetros da educação inclusiva que precisam ser corrigidos. Isto é preocupante porque estas fragilidades se materializam cotidianamente restringindo a oferta de políticas públicas adequadamente formuladas que garantam espaço, material, número de profissionais suficientes e capacitados para trabalhar com educação inclusiva nas escolas; também, refletem na qualidade das políticas públicas que comprometem a organização do serviço de saúde responsável pelo diagnóstico precoce e o acompanhamento necessário.
Enfim, a confrontação da legislação com os quadros clínicos apresentados mostra uma diversidade de situações clínicas cujos sintomas, apesar de interferirem na vida escolar, são ignorados pela legislação atual sobre educação inclusiva, portanto, não sendo garantido para essas crianças, o atendimento educacional que necessitam.
Considerações finais e perspectivas
Com certeza, estimular a discussão sobre estes aspectos da educação inclusiva constitui um dos objetivos importantes desse texto. Para que esta discussão se torne realidade, parece, portanto, urgente rediscutir interdisciplinar e intersetorialmente a legislação que norteia o tema e a sua implementação, principalmente no que se refere às suas indicações e a necessidade dos recursos humanos dos setores da educação e da saúde.
Assim, numa tentativa de generalização dos fatos observados acima, como o número de crianças portadoras desses quadros clínicos é significativo, tudo indica que estas crianças que apresentam esses transtornos podem não estar sendo atendidas adequadamente pelo sistema educacional público e regular Brasil afora, o que pode agravar a sintomatologia primária característica de cada um desses transtornos e contribuir para o aparecimento secundário de outros sintomas como os comportamentais, os emocionais e os subjetivos de um enorme contingente populacional.
A consequência final é a dificuldade de inclusão social futura dos portadores desses transtornos, associada aos impactos biopsicossociais que geralmente os afetam secundariamente.
O texto, portanto, reforça a necessidade de um trabalho conjunto entre o setor saúde, responsável pela caracterização dos quadros clínicos e o setor educação, responsável pelo planejamento das intervenções educacionais. Esta parceria tem tudo para corrigir as inconsistências atuais detectadas, por exemplo, elaborando uma nova regulamentação.
Desta forma, ocorrendo mudanças, a inclusão acontecerá adequadamente sem causar mais estresse para o professor, para os alunos portadores de necessidades educativas especiais para os colegas de sala e para as famílias, as quais, muitas vezes, se sentem desamparadas e desoladas. E, além de tudo, a inclusão escolar convenientemente implementada poderá funcionar como uma poderosa estratégia pedagógica e paradigmática em defesa da cidadania e de desenvolvimento humano.
-------------------------------------------------------------------
Referências
BASTOS, J. A. Discalculia: transtorno específico da habilidade em matemática. In: ROTTA, N.T., OHLWEILER, L., RIESGO, R.S. et al. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano nacional de educação PNE 2014 - 2024: Linha de Base. Brasília, DF: Inep, 2015. p. 404.
______. Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo. Brasília, DF, 1990.
CARVALHO, A. M. et al. Abordagem psicológica da criança e do adolescente. In: LEÃO, Ennio et al. Pediatria Ambulatorial. 5 ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. p. 237-252.
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
COUTO, T. S.; MELO-JUNIOR, M. R.; GOMES, C.R. A. Aspectos neurobiológicos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): uma revisão. Revista Ciência&Cognição, vol. 15, n. 1, abr. 2010. Disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v15_1/m202_09.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNE). Conferência Nacional de Educação (CONAE). Relatório Final. Brasília, DF. 2014. Disponível em: <http://fne.mec.gov.br/images/doc/DocumentoFina240415.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
GRAHAM, P., TURK. J., VERHULST, F. Child Psychiatry: a developmental approach. 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.
HAHN, L. E. Von et al. Specific learning disabilities in children: clinical features. UpToDate. Disponível em: <http://www.uptodate.com/contents/specific-learning-disabilities-in-children-clinical-features>. Acesso em: 18 set. 2016.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv61566.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
LOMBARDI, A. B. Exclusão escolar ou síndrome da exclusão social? Polêmica, v. 10, n. 2, p.254-263, abr/jun. 2011.
LOMBARDI, A. B.; MENDES. A. O. A criança e a escola: promoção da saúde e a abordagem das dificuldades escolares. In: LEÃO, E. et al. Pediatria Ambulatorial. 5. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. p. 253-268.
LOMBARDI, A.B. et al. Problemas de ensino/aprendizagem: contribuições para uma abordagem interdisciplinar. Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.8, n.1, p. 24-29, jan/mar. 1998.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Brasília, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
______. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 4/2014: nota técnica. Brasília, 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/legislacao>. Acesso: 18 set. 2016.
______. Secretaria de Educação Especial. Marcos político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, 2010. p. 73.
NAG, S.; SNOWLING, M. School underachievement and specific learning difficulties. In: REY, J. (Ed.). IACAPAP textbook of child and adolescent mental health. Geneva: 2015. Disponível em: <http://iacapap.org/wp-content/uploads/C.3-LEARNING-DISABILITIES-072012.pdf>. Acesso em: 18 set. 2016.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração universal dos direitos humanos. 1948. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 18 set. 2016.
______. Convenção sobre os Direitos das Crianças. 1989. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm>. Acesso em: 18 set. 2016.
RAPEE, R. M. Anxiety disorders in children and adolescents: nature, development, treatment and prevention. In: REY, J. (Ed). IACAPAP: textbook of child and adolescent mental health. 2015. p. 04-18.
REY, J.M. (editor). IACAPAP: e-textbook of child and adolescent mental health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015. Disponível em: <http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health>. Acesso em: 18 set. 2016.
ROTTA, N.T., OHLWEILER, L., RIESGO, R.S. et al. Transtornos da Aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006.
ROTTA, N.T. Transtorno da atenção: aspectos clínicos. In: ROTTA, N.T., OHLWEILER, L., RIESGO, R.S. et al. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006.
ROTTA, N.T., PEDROSO, F.S. Transtornos da linguagem escrita-dislexia. In: ROTTA, N.T., OHLWEILER, L., RIESGO, R.S. et al. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SERRA-PINHEIRO, M. A. et al. Transtorno desafiador de oposição: uma revisão de correlatos neurobiológicos e ambientais, comorbidades, tratamento e prognóstico. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 26, n. 4, p.1-1, dez. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462004000400013&script=sci_arttext>. Acesso em: 18 set. 2016.
SERVILI, C. Organizing and Delivering Services for Child and Adolescent Mental Health. In: REY, J.M. (editor). IACAPAP e-textbook of child and adolescent mental health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015. Disponível em: <http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health>. Acesso em: 18 set. 2016.
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994.
UNITED NATIONS ORGANIZATION (UNO). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 2006. Disponível em: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm>. Acesso em: 18 set. 2016.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The world health report, 2001: mental health: new understanding, new hope. Genebra. Disponível em: <http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1.>. Acesso em: 18 set. 2016.
-------------------------------------------------------------------
Recebido: 22/01/2016.
Aceito: 23/09/2016.-------------------------------------------------------------------