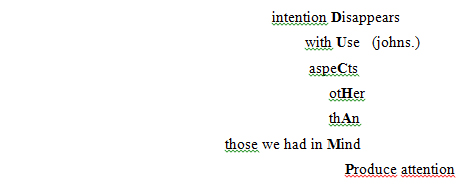Híbridus

JOHN CAGE: N-1
_____________________________________
HENRIQUE ROCHA DE SOUZA LIMA
Graduado em Música pela UFOP. Mestre em Filosofia pela UFOP. Doutorando em Música pela USP. Atualmente, pesquisa interfaces entre diferentes imagens de composição musical e o conjunto de práticas reunidas sob o título de sound design.
______________________________________
Resumo: Este trabalho se propõe a articular um encontro entre uma operação artística elaborada pelo compositor norte-americano John Milton Cage (a composição 4’33’’) e um conceito elaborado pelo filósofo francês Gilles Deleuze (o conceito de multiplicidade/n-1). Este encontro é articulado por meio de três momentos: 1º) uma rápida problematização do status da escuta no contexto de certos discursos musicológicos; 2º) uma exposição do contexto de elaboração de 4’33’’; e 3º) uma visitação ao pensamento de Deleuze (e Guattari). O objetivo geral do trabalho é chamar a atenção para o modo como a operação de Cage articula linhas de força que são, ao mesmo tempo, linhas que mobilizam os conceitos mais distintivos da filosofia de Deleuze e Guattari, dentre os quais, multiplicidade, individuação e tempo.
Palavras chave: John Cage; 4’33’’; Deleuze e Guattari; multiplicidade; n-1.
JOHN CAGE: N-1
Abstract: This study aims to articulate a connection between an artistic operation elaborated by the American composer John Milton Cage (the composition entitled 4'33'') and a philosophical concept constructed by French philosopher Gilles Deleuze (the concept of multiplicity/n-1). This meeting is articulated through three stages: 1) a quick questioning of the status of listening in the context of certain musicological discourses 2) a presentation of the context of elaboration of 4'33''; and 3) a visit to the thinking of Deleuze (and Guattari). The overall objective is to draw attention to how the operation made by Cage articulates force lines that are, at the same time, lines that move the most distinctive concepts of Deleuze and Guattari’s philosophy, among which, those of multiplicity , individuation and time.
Keywords: John Cage; 4’33’’; Deleuze e Guattari; multiplicity; n-1.
Introdução
Lembro de amar o som antes de ter tido uma aula de música(1)
Comecemos com algo que muitas vezes é esquecido ou negligenciado por algumas teorias musicais: ouvir é uma experiência tátil. Mesmo que não seja integralmente tátil (pois boa parte do caminho é constituída de transdução e transmissão de sinais eletroquímicos), a tactilidade marca o ato de ouvir e expressa a condição sempre contextual daquele que ouve. O trecho de nossa pele, que chamamos “tímpano”, opera como uma pele ou corda vibrante que ressoa em si o movimento em torno (como no caso de uma harpa-eólia). E como no caso de uma harpa-eólia, “ouvir” é algo entre ser tocado e tocar.
Considerado como automatismo banal e quotidiano no ser vivo, o “ouvir” tem suas diferentes situações históricas e geográficas. Seus contextos e condições mudam contínua e rapidamente, acompanhando as técnicas: trabalho braçal, motores a vapor, motores a explosão, motores elétricos, bobinas e hélices, energia nuclear – tudo isso emana sons. O ecossistema do ouvir é agitado e já produz de modo imanente uma emanação contínua de velocidades, o crescente estado entrópico de suas ondas.
Mas pode-se também considerar o “ouvir” a partir de outro ponto de vista, segundo o qual o que está em foco é algo diferente de sua banalidade. Por esta via, poderemos encontrar uma ação, que passa pelo ouvido, e que vai além dele: a escuta. A escuta vai além do ouvir, na medida em que é constituída por componentes semióticos, além dos componentes físicos. “Escutar” é um problema de significação, de produção de sentido, e justamente por isto, a escuta está exposta aos riscos e às arbitrariedades que marcam qualquer situação de semiose. Na escuta, a entropia não é apenas física, mas semiótica (leia-se “espiritual”, “mental”, ou mesmo “ontológica”).
Nos terrenos desta arbitrariedade nascem e crescem diferentes versões a respeito da escuta e da própria música. E tal como em qualquer outro campo de debates movimentados e calorosos, aqui se inserem vozes diversas, preenchendo um espectro que (como na história da filosofia, por exemplo), vai do mais libertário ao mais dogmático. Haveria, então, um dogmatismo musicológico? Com certeza. Também disto é feita a história da música ocidental, como a história de qualquer outra prática humana: de bairrismos, provincianismos, patriotismos, xenofobismos, subjetivismos. Ora, por que haveríamos de pensar que o território dos discursos “musicológicos” não é um território politicamente contaminado? Como qualquer outro tipo de prática discursiva, os discursos sobre a música são constituídos de pressupostos subjetivos, que são, ao mesmo tempo, pressupostos políticos, epistemológicos, estéticos, éticos, e etc.
Há uma corrente na musicologia, por exemplo, que trata o sistema tonal como uma espécie de Eidos platônico, a partir do qual qualquer manifestação musical supostamente deve ser medida em termos de proximidade ou distância com relação a esta ideia-forma divinizada (porque naturalizada e tornada ideal)(2) . Sob esta perspectiva, uma música, por mais engenhosa que seja, não passaria de uma cópia bem feita, ou de uma cópia mal feita do Eidos musical (o tonalismo, para eles). O que não se percebe é que este esquema rudimentar cria uma obrigação para a escuta, limitando-a a ser, sempre, uma escuta desta forma, desta sintaxe. Aprisiona-se a escuta na obrigação de sempre ter de remeter-se a nomes que, de resto, remetem a pontos fixados no espectro sonoro, e não a momentos intensivos da experiência de escuta. O problema é naturalizar uma estrutura e ter de sempre escutar nada mais e nada menos que ela. A vivência de uma fruição tátil é, portanto, conjurada em favor de uma abstração de uma lei “universal” e dos infinitos deveres que decorrem dela(3) . O problema é, enfim, fazer da escuta um ato de reconhecimento.
“Uma regra de gramática é um marcador de poder, antes de ser um marcador sintático”.(4)
Com “marcadores sintáticos”, foram erguidos inúmeros e importantíssimos monumentos musicais. É preciso frisar Importantíssimos. Mas seria preciso frisar, igualmente, que nem só de monumentos vive a experiência chamada “música”. As páginas que se seguem propõem uma abordagem filosófica de uma obra extremamente peculiar na história da música ocidental e cuja importância reside, paradoxalmente, em não ter construído um monumento. E, deste modo, colocando-se como uma inscrição singular e problemática, não na história ocidental, mas em qualquer “história”.
Outro “compositor”, outra escuta
Cage conta diversas vezes a história de que foi aluno do compositor e teórico austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951) e que este afirmara que Cage jamais poderia ser um compositor, pois não tinha vocação para a harmonia. Ao longo do desenvolvimento intelectual e composicional de Cage, uma contínua elaboração de diferentes procedimentos composicionais pôde ser constatada, através dos quais este compositor constituiu e percorreu seus próprios caminhos. É uma obra em que a própria noção de “compositor” é posta em jogo.
Seu primeiro passo foi a elaboração de estruturas para composição, que por sua vez, não eram estruturas harmônicas. Trabalhando com este método composicional, Cage compôs suas primeiras peças para percussão(5) . Depois vieram procedimentos diversos: o piano preparado, as obras para rádio, as composições com o uso de um operador de acaso (Cage usava o I-Ching) e gestos enigmáticos, como o caso da famigerada “peça silenciosa”. Por fim, ficou uma obra múltipla.
Nos anos 1940, Cage faz duas experiências que foram levadas para seu pensamento composicional: freqüenta as aulas ministradas por Daisetz Teitarō Suzuki (1870-1966) na Columbia University sobre filosofia do Zen Budismo(6) – experiência diversas vezes narrada por ele – e visita uma câmara anecóica. O episódio da câmara anecóica é bem conhecido do leitor de Cage. Uma câmara anecóica (Anechoic chamber) é um espaço físico projetado de modo a não produzir nenhuma reverberação (an - echoic = não – ecóica = sem ecos), sendo também uma sala na qual não se ouve nenhum som vindo do exterior. Deste modo (não refletindo os sons produzidos ali e isolando todo som exterior), esta sala seria, supostamente, o espaço ideal onde seria possível se experimentar o silêncio. Cage entrou numa sala deste tipo e saiu dizendo que, em lugar de “silêncio”, passou o tempo todo ouvindo dois sons. O técnico da sala pediu que Cage os descrevesse e, após ouvir a descrição, o técnico disse que o som grave era o pulso de seu coração e a circulação do sangue pelo seu corpo; e o agudo, seu sistema nervoso em operação.
Esta experiência reaparece diversas vezes nos escritos do compositor que a incorpora com elemento na formulação de uma tese tão simples quanto catastrófica: o silêncio não é acústico. Eis a ideia mudança de mentalidade”(7) . Vejamos uma das versões deste caso:
“Não há algo como um espaço vazio ou um tempo vazio. Há sempre algo para se ver, algo para se ouvir. De fato, tentamos o tanto quanto possível fazer silêncio, e não o podemos. Para alguns propósitos em engenharia, é preciso criar uma situação o mais silenciosa quanto possível. Uma sala deste tipo é chamada câmara anecóica, com seis paredes feitas com um material especial, resultando em uma sala sem reverberações (sem ecos). Entrei numa sala deste tipo na Universidade de Harvard há muitos anos atrás e ouvi dois sons, um alto (agudo) e um baixo (grave). Quando os descrevi ao o engenheiro encarregado do projeto, ele me informou que o som agudo era meu sistema nervoso em operação, e o grave era meu sangue em circulação. Enquanto eu viver haverá sons. E eles continuarão após a minha morte”.(8)
Portanto, “há sempre algo para se ouvir”, é o que o compositor sugere. Há sempre movimento, micro e macroscópicos movimentos, aquém e além dos limiares da percepção comum. Uma constatação aparentemente tão simples, segundo a qual “silêncio” equivale à falta de sons, aparece aqui como um grande equívoco, pois enquanto houver matéria (planetas, micróbios) haverá som. Esta constatação leva Cage a elaborar uma obra que tentará colocar em prática uma emergência do silêncio como espaço enigmático, no qual pode vir a ser operada uma mudança de mentalidade [“A change of mind, a turning around”]. Esta “change of mind” que, por sua vez, passa a ser uma questão central em Cage, é precisamente uma questão de escuta, pensada como ação produtora de sentido. Uma escuta desafiada por quatro minutos e trinta e três segundos, através dos quais ela poderá experimentar-se como multiplicidade de “pontos de vista” (ou melhor, pontos de escuta)(9) .
4’33’’: n-1
Aproximadamente quatro anos antes de ser trazida a público, Cage mencionou sua intenção de elaborar uma peça inteiramente composta de silêncio mas, desde já, se debatia a ideia de que tal peça poderia ser “incompreensível no contexto ocidental” e com uma intenção inicial que já orientava a elaboração dela: “não queria que ela parecesse, mesmo para mim, como algo fácil de se fazer ou como uma piada”(10) . Portanto, a tendência comum do pensamento reacionário de tentar reduzir esta composição a um puro joguete “brincalhão” não é mais do que um modo barato de permanecer sem pensá-la em sua potência crítica e problematizante.
Nesta mesma conferência, Cage mencionou também que sua peça de silêncio ininterrupto teria cerca de três ou quatro minutos e meio – fazendo referência ao tempo médio de duração de uma música “enlatada”, a mercadoria musical - e seria oferecida à companhia Muzak Holdings(11) . Mas, em 1952, ao ser apresentada pela primeira vez, Cage preferiu problematizar, não diretamente o domínio instituído da “música de elevador”, e, sim, o de uma instituição mais antiga: o concerto de música, com tudo que ele envolve - seu espaço físico, seus personagens, suas regras de conduta - isto é, uma territorialização do acontecimento da música nos limites de seu ritual.
4’33’’ foi composta em três movimentos e apresentada pela primeira vez em 29 de Agosto de 1952, pelo pianista (e compositor) David Tudor. A apresentação se fez na sala de concerto Maverick (Maverick Concert Hall) em Woodstock/Nova Iorque, como parte de um recital de música contemporânea para piano. A performance consistiu, basicamente, no seguinte: o pianista entra com um cronômetro em mãos, senta-se junto ao piano e, sem tocar uma nota, atravessa os três movimentos da peça, os quais são separados pela ação de fechar e abrir a tampa do teclado, até chegar aos 4 minutos e 33 segundos, quando o pianista se levanta, e sai.
Naturalmente, estes 4 minutos e 33 segundos não se passaram em silêncio, como comenta Cage, com humor:
Eles não captaram a ideia. Não existe uma coisa tal como o silêncio. O que eles pensaram ser silêncio, porque não sabiam escutá-lo, estava cheio de sons acidentais. Você podia ouvir o vento agitado lá fora no primeiro movimento. Durante o segundo, gotas de chuva começaram a tamborilar no telhado, e durante o terceiro as pessoas elas mesmas fizeram todo tipo de sons interessantes enquanto falavam ou iam embora.(12)
Como foi mencionado anteriormente, é sobre a escuta que cai o apelo de uma “change of mind”, pois é sobre ela que está o foco da operação. Trata-se de uma proposta deliberada de subverter a estrutura que se tornou convencional como ritual da música, deslocando o foco das figuras centrais (o intérprete e a obra/compositor) para a, então, figura marginal, o ouvinte. Com 4’33, Cage faz com que a escuta seja, não apenas um mero fato (de resto, descartável) do acontecimento musical, e sim um elemento constituinte, um problema de direito (quid juris?), quando se trata deste acontecimento.
Nova música = Nova escuta(13)
Como gesto de desestabilização dos personagens centrais de um ritual, o gesto de Cage em 4’33’’ poderia ser pensado como análogo ao gesto de Marcel Duchamp (1887-1968) quando faz a instituição “arte” se deparar com um “objeto pronto” (ready made). Tanto em um caso como em outro, há uma problematização dos pilares sobre os quais se erguia a instituição arte: o autor (pensado como gênio iluminado), a obra (pensada como fruto do trabalho do gênio), e a recepção (pensada como contemplação passiva do fruto). Vêm à tona dois problemas específicos: a colocação em prática de uma outra imagem do artista, e a ligação direta entre arte e o limiar da percepção, como sugere o mesóstico que Cage escreveu, dedicado a Duchamp:
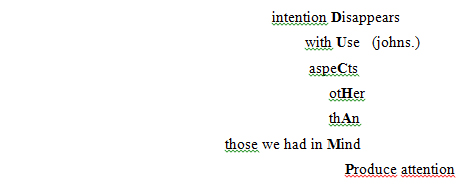
A colocação de 4’33’’ em relação direta com o problema do limiar da percepção (conexão tornada evidente nos próprios textos de Cage) nos conduz à colocação desta obra em vizinhança com um conceito filosófico específico: o conceito deleuziano de multiplicidade. Como vínhamos tentando afirmar anteriormente, 4’33’’ é um gesto emblemático no qual a escuta é desnaturalizada e multiplicada em personagens(14) . Ele opera sobre um ritual social, repetindo os “atores” principais de sua cena (a tríade compositor-intérprete-ouvinte), liquidando-os e dissipando-os em atores pré-individuais e a-subjetivos: os sons.
Deleuze elabora seu conceito de multiplicidade já em seu primeiro livro “escrito em voz própria”, Diferença e Repetição (1968), e o desenvolve ao escrever o segundo tomo de Capitalismo e Esquizofrenia, o livro intitulado Mil Platôs, escrito em colaboração com Félix Guattari e apresentado como “uma teoria das multiplicidades”(15) . Em Deleuze e Guattari, o termo multiplicidade designa um processo de expansão diferencial no qual não se consegue situar um ponto estável em nenhum território em particular. Em outras palavras, “multiplicidade” designa um processo no qual nenhuma unidade (nem material nem abstrata) sobrevive como sendo sua base ou seu fim. Trata-se, portanto, de um modo de abordagem de relações entre diferenças de potencial, que não aborda a diferença como derivada de uma identidade primeira, e não supõe ou se baseia em nenhuma identidade para se pensar o processo. A única “unidade” que se encontra aí é a da consistência do encontro entre duas forças (daí a insistência de Deleuze e Guattari em abordar a multiplicidade como um substantivo, tirando disto as conseqüências ontológicas).
Por este motivo, Deleuze e Guattari insistem que os pensamentos que se fundam em noções unitárias e supostamente idênticas a si mesmas (como, por exemplo, “A verdade”, “O eterno”, “A música”), são incapazes de pensar a multiplicidade como tal, isto é, como um substantivo:
(...) este pensamento nunca compreendeu a multiplicidade: ele necessita de uma forte unidade principal, unidade que é suposta para chegar a duas, segundo um método espiritual. E do lado do objeto, segundo o método natural, pode-se sem dúvida passar diretamente do Uno a três, quatro ou cinco, mas sempre com a condição de dispor de uma forte unidade principal, a do pivô, que suporta as raízes secundárias.(16)
Considerando que 4’33’’ só acontece se nenhuma das entidades unitárias mencionadas acima (o compositor, o intérprete, o ouvinte) sobrevive no decorrer do processo (ela só acontece se estas entidades são subtraídas), esta composição pode ser vista como um ato no qual a multiplicidade não é descrita nem referenciada: ela é feita.
4’33’’ seria, então, um ato capaz de fazer o múltiplo:
Na verdade, não basta dizer “Viva o múltiplo”, grito de resto difícil de emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. O múltiplo é preciso fazê-lo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões das quais dispomos, sempre n-1 (é somente assim que o um faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1.(17)
4’33’’ “escreve a n-1” , sonoriza a n-1, e propõe, a quem se der a experiência, a oportunidade de tocá-la, isto é, escutá-la.
Erewhon para um, Nowhere para outro
O desafio de se lidar com a multiplicidade como substantivo é colocado em prática na medida em que, para ser abordada como tal, é preciso que uma série de outros substantivos sejam desestabilizados, dentre os quais, o “sujeito” e o “objeto”. Aí está a dificuldade: nosso hábito nos coage sempre a pensar apenas conforme estes termos, utilizando-os como recurso para a estabilização de um mundo, um mundo que seria o “nosso”. E é justamente nesta desestabilização que uma filosofia que ultrapassa o pensamento ordinário começa a acontecer:
Cabe à Filosofia moderna ultrapassar a alternativa temporal-intemporal, histórico-eterno, particular-universal. Graças a Nietzsche, descobrimos o intempestivo como sendo mais profundo que o tempo e a eternidade: a Filosofia não é Filosofia da História, nem Filosofia do eterno, mas intempestiva, sempre e só intempestiva, isto é, "contra este tempo, a favor, e assim o espero, de um tempo por vir". Graças a Samuel Butler, descobrimos o Erewhon como aquilo que significa, ao mesmo tempo, o "parte alguma" originário e o "aqui-agora" deslocado, disfarçado, modificado, sempre recriado. Nem particularidades empíricas nem universal abstrato: Cogito para um eu dissolvido. Acreditamos num mundo em que as individuações são impessoais e em que as singularidades são pré-individuais (...) O que este livro deveria apresentar, portanto, é o acesso a uma coerência que já não é a nossa, a do homem, nem a de Deus nem a do mundo.(18)
Este trecho expressa vários pontos de encontro entre uma operação como 4’33’’ e a filosofia que Deleuze anunciava já no prólogo de seu primeiro livro “em voz própria” e ao qual ele dedicaria toda a sua obra posterior. “O Cógito para um eu dissolvido”, as “individuações impessoais” e “singularidades pré-individuais”, o “tempo por vir”, tudo isso parece viver e respirar ao ar livre em 4’33’’.
O “Cogito para um eu dissolvido”: nenhuma entidade unitária (o compositor, o intérprete, o ouvinte) permanece intacta e sobrevive como um substantivo fundante da experiência musical; as “singularidades pré-individuais”: pequenos vagidos e grandes massas de timbre emergem à flor da escuta (à flor do tímpano, à flor das sinapses). O “tempo por vir”, pois John Cage se fez como uma espécie de dobra no horizonte ontológico do pensamento musical e da noção de escuta. Uma dobra da variação contínua, ainda viva e vibrante, e que se desdobra em diferentes modos de abordar “música”, e que se multiplica em diversas imagens e versões de uma música por vir. Multiplicidade e Multiplicação: John Cage como multidobras de um plano de imanência musical.
A escuta perplexa: cadê as frases? Onde estão os motivos? O refrão? As modulações? Onde estão as partes desta música? São outras configurações que se apresentam aqui. Neste grande agenciamento agramatical que é 4’33’’, podem ser vivenciadas tantas individuações impessoais quanto mais a escuta se desterritorializa.
Com efeito, o que nos interessa são os modos de individuação que já não são os de uma coisa, de uma pessoa ou de um sujeito: por exemplo, a individuação de uma hora do dia, de uma região, de um clima, de um rio ou de um vento, de um acontecimento. E talvez seja um equívoco acreditar na existência das coisas, pessoas ou sujeitos. O título Mil Platôs remete a essas individuações que não são pessoais nem de coisas.(19)
“Mais e mais tenho a sensação de que estamos chegando aqui agora”, diria Cage (“More and more I have the feeling that we are getting nowhere”)(20) . “Nowhere”, “Now”/ “Here”... Erehwhon.
Lugar nenhum, e agora, aqui. Onde a escuta pontua o sentido.
Uma só, ou várias escutas?
Com este “Erehwon” em mente (e o “Nowhere”, insistente nos textos de Cage)(21) , perguntaríamos: e do ponto de vista do trabalho com o tempo? Com que imagem (ou imagens) de tempo Cage está trabalhando? Também aqui há um encontro notável entre Cage e Deleuze: o tempo da Duração do instante vivido, o tempo como multiplicidade intensiva.
Lendo Bergson, Deleuze ressalta que a constelação conceitual que envolve o conceito de Duração (Durée) é um plano de imanência de sentido que torna possível pensar a diferença como tal. O texto de Deleuze deixa evidente que esta possibilidade de pensar a diferença como tal emerge da proposta bergsoniana de construir uma filosofia que escapasse ao dualismo mais básico da metafísica ocidental, a saber, o dualismo entre o Uno e o múltiplo(22) . A estratégia de Bergson é propor uma “teoria das multiplicidades”, segundo a qual haveria dois tipos de diferença: Os de naturezas diferentes e irredutíveis entre si. Haveria, então, tipos de diferenças que ele chama de extensivas, caracterizadas pelo filósofo como sendo as diferenças mensuráveis, divisíveis, isto é, redutíveis a um recorte numérico discreto; e, também, tipos de diferenças nomeadas de intensivas, caracterizadas como sendo não divisíveis, isto é, não redutíveis ao recorte numérico que caracteriza a extensão. Sendo assim, as diferenças intensivas seriam da ordem de um continuum que varia segundo graus (de intensidade) que poderiam ser pensados no contexto de uma matemática contínua, e não conforme unidades discretas divisíveis.
Por este motivo, Deleuze ressalta constantemente que a diferença intensiva é aquilo que só se divide mudando de natureza:
Para Bergson, a duração não era simplesmente o indivisível ou o não-mensurável, mas, sobretudo, o que só se divide mudando de natureza, o que só se deixa medir variando de princípio métrico a cada estágio da divisão. Bergson não se contentava em opor uma visão filosófica da duração a uma concepção científica do espaço; ele transpunha o problema para o terreno das duas espécies de multiplicidade e pensava que a multiplicidade própria da duração tinha, por sua vez, uma "precisão" tão grande quanto a da ciência (...) (23) .
Diferentemente do tempo espacializado (leia-se “cronométrico”, recortado em unidades discretas), a Duração é o conceito que pretende tornar pensável a diferença intensiva a nível temporal. Poderíamos pensá-la através de perguntas, como: o que está em jogo quando o relógio marcou quatro minutos e meio? Mas, a dimensão temporal vivida envolveu um passado remoto (uma lembrança que me tomou de surpresa) e um futuro igualmente remoto e indefinido? Em outras palavras, como dimensões incomensuráveis de passado e futuro cabem, ao mesmo tempo, num pequeno “trecho” de tempo?
O conceito de Duração vai muito longe, compondo a consistência dos desenvolvimentos mais abstratos da filosofia de Bergson (bem como a de Deleuze) a respeito do conceito de tempo e da dinâmica da vida psíquica. Tais desenvolvimentos abstratos podem ser pensados em termos de “ontologia das imagens”, uma ontologia virtual extremamente detalhada(24) . Mas cuidar desta ontologia é uma tarefa que escapa às intenções deste artigo. O que nos cabe aqui é chamar a atenção para um conceito que responde à necessidade de pensar diferenciações intensivas a nível temporal, para daí extrairmos os componentes de uma imagem de escuta capaz de lidar com 4’33’’.
A proposta aqui é a de que o interesse de 4’33’’ não é meramente historiográfico, e sim estritamente musical, na medida em que esta operação exige uma postura muito específica de escuta. Junto a esta postura, ela lança o ouvinte no desafio de experimentar qualidades inusitadas de tempo, na medida em que ele encontra os sons presentes. O conceito de Duração no contexto da teoria das multiplicidades aparece aqui por implicar em si uma imagem de tempo que gravita em torno do encontro. Mas com a condição de que este encontro seja um processo que não se faça entre unidades. Este não é um encontro de comunicação. Trata-se de um processo de outra natureza (o duplo-devir em Mil Platôs), isto é, um encontro que só existe na medida em que não se funda, nem sobre o Uno de um ouvinte e uma música, nem sobre um conjunto de múltiplos “objetos sonoros”. Isto é, nem Uno nem múltiplo, a multiplicidade como condição da diferença enquanto tal seria, talvez, um conceito filosófico potente para se pensar uma escuta como individuação intensiva,na qual a escuta é aquilo que “difere de si” (25) .
Um tempo pensado como multiplicidade intensiva é a imagem de tempo chamada a atuar em diversas composições musicais. Este tempo poderá ser encontrado funcionando notadamente no trabalho de alguns compositores contemporâneos, surpreendentemente em alguns barrocos e renascentistas, e escancaradamente em John Cage.
Vivemos num período no qual muitas pessoas mudaram seu pensamento a respeito do que o uso da música é ou pode ser para elas. Algo que não fala ou conversa como um ser humano, que não conhece sua definição no dicionário nem sua teoria nas escolas, e que expressa a si mesma simplesmente pelo fato de suas vibrações. Pessoas prestando atenção à atividade vibratória, não reagindo a uma performance ideal e fixa, mas reagindo, a cada vez, atentamente ao modo como ela acontece para ser este tempo, e não necessariamente dois tempos serem o mesmo. Uma música que transporta o ouvinte ao momento onde ele está. (26)
Considerações finais:
John Cage, Deleuze e Guattari se encontram no esforço em construir um pensamento cuja consistência não depende de categorias que formam o psicologismo ocidental. O plano de Deleuze é explícito desde o prólogo de Diferença e Repetição. Cage, por sua vez, sempre deixou clara sua insatisfação com relação à concepção de música pensada como comunicação intersubjetiva (27) . Todos eles desenvolveram procedimentos para que sua arte (e sua filosofia) continuasse a funcionar apesar das convenções e instituições sedimentadas ao longo de um processo histórico do ocidente.
A força de cada um destes pensadores está (dentre várias outras linhas e acontecimentos) na afirmação de que as instituições ocidentais (no caso, filosóficas e musicais) não são mais que contingências históricas, são, no máximo, a priori históricos (para falar como Foucault), mas nunca necessidades absolutas para a experiência de um mundo.
Atualmente, é consenso no pensamento musical a ideia segundo a qual o móvel principal que articula a significação em música é a repetição. Surge, então, a necessidade de pensar 4’33 sob o ponto de vista da repetição: o que repete em 4’33’’? Além dos personagens a serem decantados, repete-se um espaço aberto no qual diferentes sons emergem a cada vez. Os sons que vêm à tona em cada repetição de 4’33’’ poderiam ser “objetos sonoros”, segundo um tipo de análise, mas talvez sua urgência é a de serem vistos como agentes cuja vontade Cage traduz para o “idioma” (para o universo semiótico) da música ocidental. Linhas de força que em 4’33’’ infiltram-se no e modulam o imaginário musical ocidental. Agentes (ou atores) que, como escreveu o compositor japonês Toru Takemitsu, vivem “além de qualquer patente, anonimamente no mundo”(28) . Tal é a repetição de 4’33’’.
Todas as operações posteriores na história da arte, marcadas pela proposta de se abordar as “obras de arte” como disparadores de experiências e não como objetos de uma contemplação (supostamente) pura e desinteressada, têm em 4’33’’ uma aliança. John Cage não é lido e pensado apenas no domínio da música. Diversas vertentes da arte contemporânea propuseram e propõem ações e noções sendo contagiadas pelo pensamento de Cage. No âmbito da filosofia, Deleuze e Guattari incorporam o pensamento do compositor como ingrediente na construção de um dos conceitos mais vibrantes do pensamento contemporâneo, o de individuação sem sujeito (ou Devir)em Mil Platôs, como também na construção de uma concepção da arte como captura de forças, cuja eficácia prática consistiria em tornar sensíveis as forças não sensíveis por elas mesmas(29) .
Cage foi um transdutor da vontade destes seres que são os sons, forças que nos cercam por todos os lados, a todo o momento, e para os quais o pensamento comum parece estar anestesiado. 4’33’’ é comumente vista como uma peça silenciosa, mas parece ser exatamente o contrário: um grande grito. Um grito o qual o pensamento musical contemporâneo pode fingir não ter escutado, se quiser continuar a, como diria Cage, “vendo no 20 o 19, e não o 21”(30) .
______________________________________________________________________________________
(1) “I remember loving sound before I ever took a music lesson”. CAGE, John. Lecture on Nothing, in: Silence, p. 113.
(2)
Eidos (
εἶδος) é o termo utilizado por Platão (428 a.c- 347.a.c) para se referir ao que ele concebe como “essências”, “formas”, “idéias” componentes de um mundo ideal e inacessível aos sentidos (um mundo ideal e apenas “inteligível”). De acordo com a teoria das formas platônica, destes princípios formais seria derivada toda a matéria que constitui o mundo sensível. Este conceito é a base de um dualismo metafísico longamente cultivado que pressupõe a existência de dois “mundos”: um “inteligível”, e outro “sensível”. Isto é, a geografia básica dos misticismos trancendentistas, e fundamentalismos essencialistas.
(3) Lembro aqui a alegoria do porteiro, em O Processo,de Franz Kafka (1883-1924), que dá a pensar a dívida infinita que uma lei produz, e que, neste conto, impede o protagonista de entrar na porta em que só ele poderia entrar.
(4) DELEUZE, G. / GUATTARI, F. Postulats de la linguistique, in: Mille Plateaux, p. 96.
(5) Cage se tornou assistente do pintor e cineasta Oskar Fischinger (1900-1967), a fim de preparar a si mesmo para compor música para um de seus filmes. Cage relata que uma idéia de Fischinger o tocou: “tudo no mundo tem seu espírito próprio, e tal espírito pode ser liberado ao ser posto em vibração”. Sob este impulso, Cage escreve: “comecei a tocar, esfregar tudo, a escutar e escrever música para percussão, e a tocá-la com meus amigos” (ver CAGE, J. An autobiographical statement). Compondo música para percussão, o compositor desenvolveu o que ele chamou depois de Estrutura rítmica. Nas estruturas rítmicas de Cage, as maiores partes têm a mesma proporção que as menores (isto é, um motivo musical tem a mesma proporção que uma frase, bem como de uma seção e da composição como um todo), e por este motivo, também são chamadas pelo compositor de “Estrutura rítmica micro-macro-cósmica”. Cage acrescenta que “a peça inteira tem o número de medidas de uma raiz quadrada”, quer dizer, um princípio matemático simples, mas o mais importante é que “esta estrutura rítmica pode ser expressa com qualquer som, incluindo ruídos, ou pode ser expressa não com sons e silêncio, mas como imobilidade e movimento em dança”. A estrutura rítmica é, portanto, uma estratégia composicional que não se limita à música. A esta altura do texto, Cage pontua: “esta foi a minha resposta à harmonia estrutural de Schoenberg” (todas as passagens citadas acima se encontram presentes em CAGE, J. An autobiographical statement).
(6) D.T. Suzuki, Japonês, autor de livros sobre Budismo, Zen e Jodo Shinshu, responsável, em grande parte, pela introdução destas filosofias no ocidente. Foi um prolífico tradutor de literatura chinesa, japonesa e sânscrita para o inglês, atuando como um importante agente de interface entre culturas orientais e a cultura ocidental industrializada. Foi uma figura de grande importância no pensamento de John Cage. Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/D._T._Suzuki
(7) “no fim dos anos quarenta descobri por experimentação (fui a uma câmara anecóica na Universidade de Harvard) que o silêncio não é acústico. É uma mudança de mentalidade, uma reviravolta. Dediquei minha música a isto”, Em: CAGE, J. An autobiographical Statement.
(8) CAGE, John. Experimental music in: Silence, p.7
(9) A ideia da escuta como sendo um processo marcado pela instabilidade e multiplicidade de perspectivas a partir das quais ela se faz, ganhou diferentes desenvolvimentos na musicologia contemporânea. Dentre as elaborações mais recentes e consistentes a respeito da escuta está o pensamento do musicólogo francês François Delalande, com seu mapeamento de diferentes “condutas de escuta”, e o pensamento do filósofo e musicólogo Peter Szendy, por meio de sua conceituação e mapeamento de diferentes práticas de escuta. Em Szendy, o tema da escuta múltipla passa pelas ideias de uma escuta feita por uma terceira pessoa, uma escuta endereçada a uma terceira pessoa (sob a fórmula de um escutar escutar), por seu modo peculiar de tratar a escritura e o arranjo musical, como sendo inscrições e escrituras de escuta, entre outros desenvolvimentos. Uma passagem rápida pelos temas de Szendy mencionados aqui pode ser encontrada em sua correspondência com Nicolas Donin, intitulada “Otographes”, url: http://www.erudit.org/revue/circuit/2003/v13/n2/902271ar.pdf.
(10) REVILL, David. The Roaring Silence: John Cage – a Life. New York: Arcade Publishing, 1993, p. 164. A conferência em questão chama-se A composer confessions, e foi apresentada no Vassar College, em Poughkeepsie, Nova Iorque, EUA, em 1948.
(11) A Muzak Holdings é uma companhia de distribuição de “músicas de fundo” (background music) para lojas de venda à varejo e outros tipos de comércio. Foi vendida em 2011 à Empresa Canadense Mood Media por 345 milhões de dólares. A área de atuação da Muzak é produzir uma sobrecarga sensorial para induzir hábitos impulsivos de consumo, bem como a induzir o grande público a estar mais susceptível a anúncios e propagandas. Pode-se encontrá-la em todo tipo de lojas de venda à varejo, bem como em áreas comuns de shopping centers (como corredores e praças de alimentação). Por este motivo, “Muzak” se tornou também um termo genérico para se referir à “música de fundo”, ou “música de elevador”. Ver: http://www.muzak.com/
(12) Cage comentando a estréia de 4’3’’, in: KOSTELANETZ, Richard.Conversing with John Cage. New York: Routledge, 2ª Ed, 2003, p. 70
(13) CAGE, JOHN. Silence, p. 9.
(14) Para um aprofundamento da idéia de “multiplicada em personagens”, ver o texto de Peter Szendy mencionado anteriormente. Para um aprofundamento da idéia de “desnaturalizada”, ver a idéia de
agenciamento contra-natureza (
agencement contre-nature) no texto “Devir-intenso, devir-animal, devir imperceptível...” em
Mil Platôs, de Deleuze e Guattari.
(15) Em Diferença e Repetição poderá se encontrar a interpretação que Deleuze faz do conceito de Multiplicidade a partir de sua leitura do filósofo Henri Bergson. Neste contexto, Deleuze intenciona, junto com Bergson, afastar-se do dualismo canônico na história da filosofia (o dualismo entre o Uno e o múltiplo), e este afastamento se faz por meio da conceituação de dois tipos de diferenças: as diferenças “de quantidade” e as diferenças “de qualidade” (a este respeito, ver os capítulos 4 e 5 de Diferença e Repetição). A respeito da apresentação de Mil Platôs como sendo uma “teoria das multiplicidades”, ver o “Prefácio à edição italiana” de Mil Platôs, publicado em português em Mil Platôs, Vol. 1.
(16) DELEUZE, G./ GUATTARI, F. Rhizome, in: Mille Plateaux, p. 11.
(18) DELEUZE, G. Diferença e Repetição, “Prólogo”, p. 17.
(19) DELEUZE, G. Conversações, p. 38.
(20) CAGE, John. Lecture on Nothing, in: Silence.
(21) Notadamente os textos Lecture on Nothing e 45’ for a speaker, em Silence.
(22) Como se sabe, este dualismo é o traço mais característico de distinção entre filósofos como Parmênides e Heráclito, que fora “harmonizado” por Platão, e que reina como estrutura básica de toda a metafísica ocidental desde a Grécia antiga.
(23) DELEUZE, G. Bergsonismo, p. 29.
(24) O conceito de Duração implica em si uma reconfiguração do estatuto do passado, e, portanto, da memória. Ele oferece um conceito de passado consideravelmente distante da imagem que tem o senso comum (a de que o passado é aquilo que acabou), na medida em que o pensa como uma dimensão tão aberta quanto o futuro, e à qual a mente experimenta através de saltos (as atualizações, isto é, passagens de uma “mancha” indistinta de passado à consciência). Esse plano aberto do pensamento é pensado pelo conceito de Virtual, que por sua vez, remete a uma ontologia peculiar, que pode ser encontrada em Bergson e Deleuze. A respeito destes temas, ver ALLIEZ, E. Deleuze filosofia virtual; e PELBART, P. P. O tempo não-reconciliado: imagens de tempo em Deleuze.
(25) DELEUZE, G. Bergsonismo, p. 103: “Com efeito, o que é a duração? Tudo o que Bergson diz acerca dela volta sempre a isto: a duração é o que difere de si... Em suma, a duração é o que difere, e o que difere não é mais o que difere de outra coisa, mas o que difere de si. O que difere tornou-se ele próprio uma coisa, uma substância. A tese de Bergson poderia exprimir-se assim: o tempo real é alteração, e a alteração é substância. A diferença de natureza, portanto, não está mais entre duas coisas, entre duas tendências, sendo ela própria uma coisa (...)”.
(26) CAGE, John. An autobiographical statement, grifo meu.
(27) “Eu não podia aceitar a idéia acadêmica de que o propósito da música era a comunicação, porque percebi que enquanto eu conscienciosamente escrevia algo triste, as pessoas e os críticos estavam frequentemente aptos a rir daquilo” (in: An autobiographical Statement).
(28) TAKEMITSU, Toru. John Cage. In: Confronting Silence, p. 27: “John Cage influenciou profundamente a minha música. Tendo em vista que ele está constantemente inventando novos modos de abordar a música, não se pode apreender a verdadeira natureza de sua música olhando o que está ali. Sua invenção musical, além de qualquer patente, está registrada anonimamente no mundo. Cage quer fertilizar a árida ‘terra da música’ ”.
(29) A respeito da presença de Cage em Mil Platôs, ver o texto Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível, páginas 327 e 329 de Mille Plateaux.
(30) CAGE, John. Overpopulation and Art.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Referências Bibliográficas
ALLIEZ, E. Deleuze filosofia virtual; tradução de Heloisa B.S. Rocha. São Paulo: Ed. 34, 1996, p.30
CAGE, John. An Autobiographical Statement. In: http://www.newalbion.com/artists/cagej/autobiog.html
CAGE, John. Overpopulation and Art, 1992.In: https://archive.org/details/AM_1992_01_28
CAGE, John. Silence: lectures and writings. Middletown: Wesleyan University Press, 1961.
DELEUZE, G. Bergsonismo. Tr. de Luiz B. L. Orlandi, São Paulo, Editora 34, 1999.
_________. Conversações. 2ª ed. São Paulo: Editora34, 1996.
_________. Différence et Répétition, Paris, PUF, 1968.
_________. Diferença e repetição, tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado, Rio
de Janeiro, Graal, 1988.
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980.
KOSTELANETZ, Richard. Conversing with John Cage. New York: Routledge, 2ª Ed, 2003.
PELBART, P. P. O tempo não-reconciliado: imagens de tempo em Deleuze. São Paulo, Perspectiva, 1998.
REVILL, David. The Roaring Silence: John Cage – a Life. New York: Arcade Publishing, 1993
SZENDY, Peter. Écoute. Une histoire de nos oreilles, précédé de «Ascoltando» par
Jean-Luc Nancy, Paris, Minuit, 2001.
SZENDY, Peter. & DONIN, Nicolas. Otographes, in: Circuit: musiques contemporaines, vol. 13, n° 2, 2003, p. 11-26. URL: http://www.erudit.org/revue/circuit/2003/v13/n2/902271ar.pdf
TAKEMITSU, Toru. Confronting Silence: Selected Writings. Fallen Leaf Monographs on Contemporary Composers. [Literary works.]. Traduzido para o inglês por Yoshiko Kakudo and Glenn Glasow. Berkeley, Calif.: Fallen Leaf Press, 1995.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Recebido em: 9/04/2014
Aceito em: 15/04/2014
Recebido em: 02/01/2014
Aceito em: 18/02/2014
| ©2012 - Polêm!ca - LABORE | (@) | <-- VOLTAR |