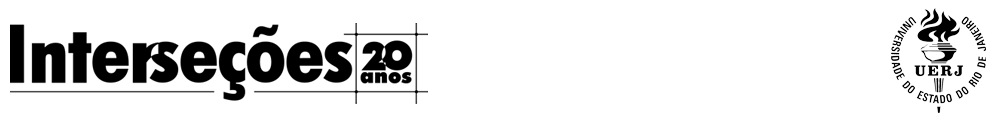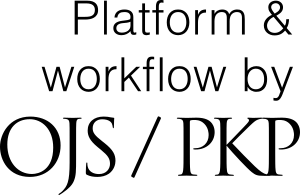Patroas e patrões: feminilidade, masculinidade e branquitude entre as relações de trabalho doméstico remunerado
DOI:
https://doi.org/10.12957/irei.2023.75166Palavras-chave:
Patrões, Branquitude, Trabalho doméstico remunerado.Resumo
Este artigo busca analisar as relações de desigualdade de gênero, raça e classe entre patroas e patrões e trabalhadoras domésticas a partir de uma perspectiva interseccional. Considerando as relações de alteridade entre as partes, objetiva-se explorar as construções das identidades sociais das patroas e dos patrões e o papel que as desigualdades inerentes às relações com as trabalhadoras domésticas cumprem em tais construções. A partir dos estudos críticos da branquitude e dos estudos sobre as relações de gênero e raça em meio ao trabalho doméstico remunerado, pretende-se compreender como a raça constrói, de forma articulada ao gênero (feminilidade e masculinidade) e à classe, homens e mulheres brancos e brancas privilegiados(as) economicamente que produzem relações de intensa inferiorização, objetificação, desumanização e servilismo sobre mulheres negras praticantes dessa atividade tão racializada no Brasil. Tais relações evocam tempos escravocratas num continuum histórico que resulta não apenas em descendentes de escravizados(as), mas, também, descendentes de “sinhôs” e “sinhás”.
Downloads
Referências
AKOTIRENE, Carla.
(2018). O que é interseccionalidade? Belo Horizonte (MG): Letramento: Justificando.
ALVES, José; CARVALHO, Angelita; COVRE-SUSSAI, Maira.
(2017). Divisão do trabalho doméstico e suas interfaces com gênero e raça no estado do Rio de Janeiro. In: Entre a casa e o trabalho. ARAÚJO, Clara; GAMA, Andrea (orgs.). Rio de Janeiro: Nuderg/UERJ.
ÁVILA, Maria Betânia.
(2009). O tempo do trabalho das empregadas domésticas: tensões entre exploração/dominação e resistência. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.
AZERÊDO, Sandra.
(2002). A ânsia, o sino e a transversalidade na relação entre empregadas e patroas. Cadernos Pagu, n.9. Campinas (SP). p.323-334.
(1989). Relações entre Empregadas e Patroas: reflexões sobre o feminismo em países multiraciais. In: COSTA, A.; BRUSCHINI, C. Rebeldia e Submissão: Estudos sobre a Condição Feminina. São Paulo, FCC/Vértice.
BENTO, Maria Aparecida.
(2016). Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida (orgs). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes.
(1995). A mulher negra no mercado de trabalho. Estudos Feministas, Florianópolis, SC, p. 479-488.
(2022). O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras.
BERNARDINO-COSTA, Joaze.
(2007). Sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil: teorias da descolonização e saberes subalternos. Tese de doutorado em Sociologia. Universidade de Brasília, Brasília, p. 274.
BERG, Ulla; RAMOS-ZAYAS, Ana.
(2015, October). Racializing Affect: A Theoretical Proposition. Current Anthropology, vol. 56, n. 5, p. 654-677.
BORIS, Eillen.
(2014). Produção e reprodução, casa e trabalho. Tempo Social, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 101-121.
BRITES, Jurema.
(2000). Afeto, Desigualdade e Rebeldia: bastidores do serviço doméstico. Tese de Doutorado em Antropologia Social. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 239p.
BRUSCHINI, Maria Cristina.
(1994). O Trabalho da Mulher Brasileira nas Décadas Recentes. Estudos Feministas, Florianópolis, p. 179-199.
(2006). Trabalho doméstico: inatividade econômica ou trabalho não-remunerado? R. Bras. Est. Pop., São Paulo, v.23, n.2, p.331-53.
BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDE, Maria.
(2000). A bipolaridade do trabalho feminino no Brasil contemporâneo. Cadernos de Pesquisa, n. 110, p. 67-104.
CARBY, Hazel.
(2012). Mujeres blancas, ¡escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad femenina. In: JABARDO, Mercedes (ed). Feminismos negros. Una antologia. Madrid: Traficantes de Sueños.
CARDOSO, Lourenço.
(2010). Branquitude acrítica e crítica: a supremacia racial e o branco anti-racista. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, vol. 8, n. 1, p. 607-630.
CARNEIRO, Suely.
(2011). Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro.
COLLINS, Patrícia H.
(2019). Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento. Tradução de Jamile Pinheiro Dias. São Paulo: Boitempo.
COLLINS, Patrícia H.; BILGE, Sirma.
(2021). Interseccionalidade. São Paulo: Boitempo.
CONNELL, [Raewyn] Robert.
(1983). Which Way is up? Essays on Sex, Class and Culture. Sydney, Australia: Allen and Unwin.
CONNELL, [Raewyn] Robert; MESSERSCHMIDT, James.
(2013). Masculinidades hegemônicas: repensando o conceito. Estudos Feministas, Florianópolis, v.21, n. 1, p.241-274.
COROSSACZ, Valeria R.
(2014a). Abuso sexual no emprego doméstico no Rio de Janeiro: a imbricação das relações de classe, gênero e “raça”. Temporalis, Brasília (DF), ano 14, n. 28, p. 299-324.
(2014b). Relatos de branquitude entre um grupo de homens brancos do Rio de Janeiro. Revista Crítica de Ciências Sociais, 105, p. 43-64.
(2020). Assédio Sexual no Emprego Doméstico, Z Cultural: Revista do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, vol. 15, n.2. Disponível em http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/assediosexual- no-emprego-domestico/. Acesso em: jan. 2023.
CRENSHAW, Kimberlé.
(2002). Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis (SC). vol.10, n.1, p. 171-188.
(1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review, v. 43, n.6, p. 1241-1299.
DAVIS, Angela.
(2016). Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo.
DUBAR, Claude.
(2005). A Socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes.
FAUSTINO, Deivison.
(2019). Diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades. Prefácio. In: RESTIER, Henrique; SOUZA, Rouf Malungo (orgs.). Diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidades. São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial.
FEDERICI, Silvia.
(2019). O Ponto Zero da Revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante.
FRAGA, Alexandre Barbosa.
(2010). Da empregada a diarista: as novas configurações do trabalho doméstico remunerado. Dissertação de mestrado em Sociologia apresentada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 173p.
FRANKENBERG, Ruth.
(2004). A miragem de uma branquidade não-marcada. In: WARE, Vron (org.). Branquidade: identidade branca e multiculturalismo. Rio de Janeiro: Garamond.
FREYRE, Gilberto.
(1933). Casa-grande & senzala. Formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio.
GONZALEZ, Lélia.
(2018). Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. Lélia Gonzalez em primeira pessoa... Diáspora Africana: Editora Filhos da África.
GRAHAM, Sandra Lauderdale.
(1992). Proteção e obediência, criadas e seus patrões no Rio de Janeiro 1860-1910. São Paulo: Companhia das Letras.
GWALTNEY, John Langston.
(1980). Drylongso, a self-portrait of Black America. New York: Vintage, 1980.
HALL, Stuart.
(2000). Quem precisa de identidade? In: SILVA, T. T. (org). Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, Vozes.
HIRATA, Helena.
(2002). Nova divisão sexual do trabalho? São Paulo: Boitempo.
HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièlle.
(2007). Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, v. 37, n. 132.
HOOKS, Bell.
(1995). Intelectuais negras. Estudos Feministas, Florianópolis (SC), v. 3, n.2, p. 464-478.
(2014). Não sou eu uma mulher? Mulheres negras e feminismo, 2.ed. Editora Routledge.
KILOMBA, Grada.
(2019). Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó.
KIMMEL, Michael.
(1998). A produção simultânea de masculinidades hegemônicas e subalternas. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 4, n. 9, p. 103-117.
KOFES, Suely.
(2001). Mulher, mulheres: identidade, diferença e desigualdade na relação entre patroas e empregadas domésticas. Campinas (SP): Editora da Unicamp.
MCCLINTOCK, Anne.
(2003). Couro imperial. Raça travestismo e o culto da domesticidade. Cadernos Pagu, Campinas (SP), n.20, p.7-85.
MONTICELLI, Thays Almeida.
(2013). Diaristas, afeto e escolha: Ressignificações no trabalho doméstico remunerado. Dissertação de mestrado em Sociologia apresentada à Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 169p.
(2017). “Eu não trato empregada como empregada”. Empregadoras e o desafio do trabalho doméstico remunerado. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, Paraná, PR, Brasil.
NOGUEIRA, Claudia.
(2003). A feminização no mundo do trabalho: entre a emancipação e a precarização. Campinas: Autores Associados.
PICANÇO, Felícia; ARAÚJO, Clara Maria; COVRE-SUSSAI, Maira.
(2021). Papéis de gênero e divisão das tarefas domésticas segundo gênero e cor no Brasil: outros olhares sobre as desigualdades. Revista brasileira de Estudos Populacionais, v.38.
PINHO, Osmundo.
(2004). Qual é a identidade do homem negro? Democracia Viva, n. 22, p. 64-69.
PORFÍRIO, Tamis.
(2021). A cor das empregadas: a invisibilidade racial no debate do trabalho doméstico remunerado. Belo Horizonte: Letramento; Temporada.
RAMOS, G. Alberto.
(1955). Patologia social do branco brasileiro. In: Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ.
RAMOS-ZAYAS, Y. Ana.
(2017). “Parentalidade soberana” em bairros afluentes da América Latina. Raça e as geopolíticas dos cuidados de crianças em Ipanema (Brasil) e El Condado (Porto Rico). Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v.48, n. 2, p.137-184.
ROBERTS, Doroty.
(1997). Spiritual and Menial Housework. Faculty Scholarship, Valdosta (GA), p. 51- 80. Disponível em http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1282 .Acesso em: jan. 2022.
SAFFIOTI, Heleieth.
(1984). Mulher brasileira: opressão e exploração. Rio de Janeiro: Achiamé.
(1978). Emprego Doméstico e Capitalismo. Petrópolis: Editora Vozes.
SOUZA, Rolf.
(2013). Falomaquia: homens negros e brancos e a luta pelo prestigio da masculinidade em uma sociedade do Ocidente. Antropolítica, Niterói (RJ), n. 34, p. 35-52.
TELLES, Lorena F. S.
(2013). Libertas entre sobrados: mulheres negras e trabalho doméstico em São Paulo (1880-1920). São Paulo: Alameda.
TEIXEIRA, Juliana.
(2013). As patroas sobre as empregadas: discursos classistas e saudosistas das relações de escravidão. In: Secretaria de Políticas para as Mulheres (Org.). Oitavo prêmio constituindo a igualdade de gênero: redações, artigos científicos e projetos pedagógicos premiados. Brasília: SPM, p. 31-68.
(2021). Trabalho doméstico. São Paulo: Jandaíra.
THEMIS − Gênero, Justiça e Direitos Humanos.
(2022). Assédio sexual e as trabalhadoras domésticas na América Latina e Caribe [recurso eletrônico]: a implementação da C190 da OIT no Brasil, Colômbia, Equador, Honduras e México. Porto Alegre (RS).
TRUTH, Sojourner.
(2020). E eu não sou uma mulher? Narrativa de Sojourner Truth. Tradução Carla Cardoso. São Paulo: Imã Editorial.
(2014). E não sou uma mulher? Tradução Osmundo Pinho, Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/. Acesso em: jan. 2022.
WARE, Vron.
(2004). Pureza e perigo: raça, gênero e história de turismo sexual. In: WARE, Vron (org.). Branquidade: identidade branca e multiculturalismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Tamis Porfírio

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Interseções - Revista de Estudos Interdisciplinares está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).