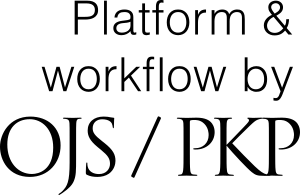Publicação científica: um mercado de luxo?
* Por Olavo Amaral
Quem gastaria muito mais para ter seu artigo na Nature? Quase todo mundo
Uma das situações mais desafiadoras na carreira de um cientista é tentar explicar o sistema de publicação científica para as pessoas em geral. Como justificar que pesquisadores entreguem seu trabalho de graça a editoras estrangeiras, que lucram cobrando pelo acesso a ele? Ou que, além de não cobrar, eles às vezes paguem por isso?
Antes da internet, editoras comerciais eram necessárias para a divulgação de um trabalho científico: financiados por universidades ou governos, cientistas faziam pesquisa e atuavam como revisores de seus pares, delegando a tarefa de imprimir e distribuir artigos em papel a uma empresa que cobrava pelo produto de forma a manter o negócio viável.
A rápida migração online das revistas científicas na virada do século parecia anunciar mudanças: em 1995, a Forbes previu que a Elsevier, maior editora científica do mundo, seria a “primeira vítima da internet”. Passados 25 anos, o braço técnico-científico do grupo RELX, conglomerado multinacional no qual a editora se transformou, registra um faturamento anual de mais de 2,6 bilhões de libras, com margens de lucro entre 30 e 40%.
Tais custos são mantidos por bibliotecas universitárias e agências públicas ao redor do mundo, que pagam somas cada vez mais vultosas por artigos que suas próprias instituições produzem. No caso do Brasil, isso equivale a mais de 480 milhões de reais desembolsados pela CAPES nas assinaturas do Portal Periódicos em 2020.
O absurdo de um sistema que bloqueia o acesso a pesquisa feita com dinheiro público tem gerado apoio crescente ao modelo de acesso aberto, em que cientistas pagam uma taxa única para cobrir os custos de publicação do artigo e mantê-lo disponível. Recentemente, a União Europeia anunciou o Plan S, que determina que toda pesquisa financiada pelo bloco deve ser publicada nesse formato –política já adotada por outros financiadores, com graus variáveis de sucesso.
O resultado? Há alguns meses, a Nature, talvez a revista científica de maior prestígio no mundo, anunciou que seu preço para publicar um artigo em acesso aberto seria de 11.390 dólares.
O valor equivale no Brasil a cerca de dois anos e meio de uma bolsa de doutorado, ou à remuneração de dois mestrados inteiros. Ele é ainda mais estapafúrdio ao considerar-se que o custo médio dos serviços de uma revista científica tem sido estimado entre 200 e 1.000 dólares por publicação. Quem em sã consciência gastaria dezenas de vezes mais para ter seu artigo na Nature?
A resposta? Quase todo mundo. Não porque cientistas sejam pouco zelosos com seus orçamentos, mas precisamente pelo contrário: artigos em revistas de prestígio são o motor que garante reputação, empregos e recursos de pesquisa no mundo acadêmico. Como quem paga por uma bolsa Louis Vuitton, seus autores estão menos interessados no produto do que na marca.
A consequência é uma economia de prestígio que permite às grandes revistas cobrarem o que bem entendem, além de obterem mão-de-obra gratuita de cientistas ansiosos por associarem-se a suas marcas como revisores ou editores. Nesse mercado, não há espaço para renovação: mesmo concorrentes que ofereçam serviços melhores a um custo mais baixo levariam décadas para obter a reputação de uma Nature ou uma Science.
Com isso, pesquisadores de países como o Brasil se veem forçados a escolher entre duas alternativas eticamente questionáveis: deixar seus trabalhos serem bloqueados por paywalls para o lucro alheio, ou desperdiçar os escassos recursos de pesquisa do país com taxas de acesso aberto inflacionadas.
As saídas para o impasse existem, mas ainda são tímidas. Boicotes a editoras como a Elsevier ocorrem há mais de uma década, e corpos editoriais inteiros de revistas da editora têm renunciado para criar publicações independentes. O Sci-Hub, site pirata concebido por uma estudante do Cazaquistão, praticamente resolveu o problema da acessibilidade universal a artigos científicos. E o uso de preprints –versões não revisadas de artigos divulgados pelos autores– vem se tornando uma prática usual em cada vez mais áreas da ciência, com custo baixo o suficiente —cerca de 15 dólares por artigo submetido ao arXiv em 2020– para ser mantida por filantropia.
Todas essas notícias seriam positivas, se não fossem invisíveis para os processos de avaliação científica. Você não encontrará um campo para incluir preprints no Currículo Lattes do CNPq. E com o Qualis, que atrela a avaliação da produção científica das pós-graduações à revista de publicação, a CAPES obriga pesquisadores a se submeter às editoras –e a si mesma a gastar com suas assinaturas–, ainda que “não avaliar artigos por onde são publicados” seja a recomendação principal de manifestos sobre avaliação científica há uma década.
Ironicamente, o Brasil também criou o Scielo, talvez a mais bem-sucedida iniciativa de acesso aberto em grande escala no mundo, que por meio de uma infraestrutura mantida com verbas públicas garante que a maioria dos periódicos nacionais não cobre nem pelo acesso nem pela publicação. Dito isso, boa parte dos pesquisadores brasileiros não pode se dar ao luxo de usá-la, sob pena de rebaixar suas pós-graduações ao abdicar de revistas de maior renome.
Em resumo, temos um mercado em que o contribuinte paga para que a ciência seja produzida, paga para que ela seja publicada e paga para assinar as revistas que a publicam. O resultado disso tudo é que a maior parte da pesquisa produzida no mundo ainda é acessível a poucos, enquanto rios de dinheiro escoam dos cofres públicos para grandes corporações editoriais.
O mais triste é que o sistema poderia ser reformado com facilidade, não fossem os velhos cientistas que ditam suas regras tão apegados às publicações de alto impacto que os levaram à elite, e os novos tão obcecados por seguir o mesmo caminho dos velhos. E enquanto, por força do hábito e da inércia, eles entregam de graça conhecimento e recursos que sequer são seus, os acionistas da RELX riem à toa.
* Olavo Amaral é professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da UFRJ e coordenador da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade.